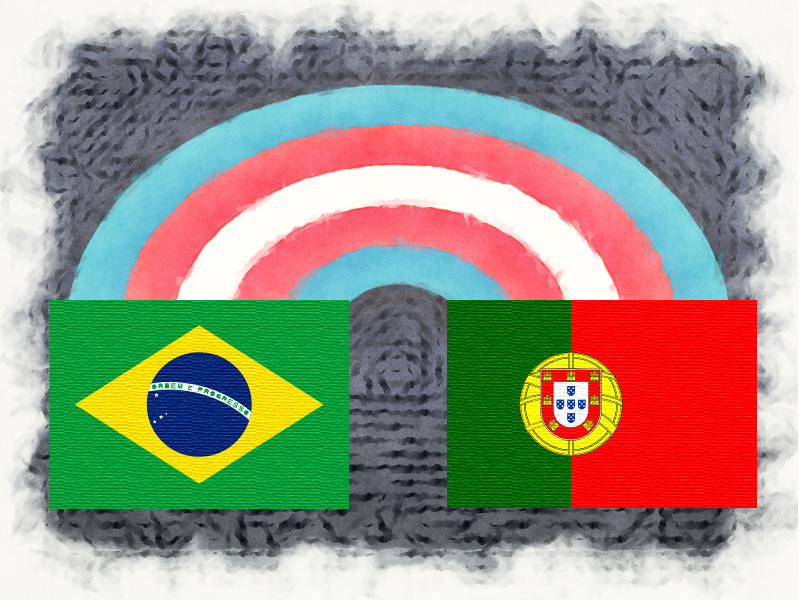Desta vez vou abordar um assunto deliberadamente polémico. É mesmo daquelas coisas em que metade das pessoas não vai concordar comigo. Sabendo de antemão que assim será, quero desde já esclarecer que não pretendo, de todo, antagonizar ninguém, mas apenas apresentar uma opinião, nada mais.
Desta vez vou abordar um assunto deliberadamente polémico. É mesmo daquelas coisas em que metade das pessoas não vai concordar comigo. Sabendo de antemão que assim será, quero desde já esclarecer que não pretendo, de todo, antagonizar ninguém, mas apenas apresentar uma opinião, nada mais.
O argumento é longo, e o mérito de o desenvolver não é inteiramente meu. Parte de muitas conversas com amigas, de coisas que me disseram e que me fizeram pensar um bocadinho no assunto. Por vezes, quando me recordo de quem me disse alguma coisa, cito essa pessoa explicitamente. Outras vezes infelizmente já não me lembro de quem foi. Queria, pois, agradecer a toda a gente que tem discutido estes assuntos comigo, e pedir antecipadamente desculpa se deixei alguém de fora!
E, mais uma vez, este não é, de todo, um artigo científico mas sim um artigo de opinião. Por isso, façam o favor de discordar de mim nos comentários! Isso ajudará para manter o debate aberto e corrigir futuras versões do argumento…
Temos, antes de mais, começar com algumas definições. É importante sabermos do que estamos a falar e em que contexto dizemos as coisas; retirar frases de contexto, ou assumir que toda a gente esteja a falar das mesmas coisas — que todos adoptem as mesmas definições — é sempre um erro grave que só conduz a divergências, confusões, más interpretações, e por vezes mesmo a discussões pouco amigáveis!
Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que não existe um tipo de crossdressers. O termo, por si só, não o permite. Tecnicamente, e etimologicamente, crossdressing designa apenas o acto de vestir roupas do género oposto daquele que foi atribuído à nascença. Não quer dizer mais nada do que isto, não implica absolutamente mais nada (nomeadamente do ponto de vista do que é que a pessoa sente quando pratica este acto ou a forma como se comporta), mas já identifica dois conceitos: o primeiro, obviamente, é que estamos a falar de roupa, de aparência externa. E o segundo, talvez menos óbvio, é que pressupõe a existência de dois géneros binários que se opõem.
Kat Callaghan, activista transexual, tem uma forma pragmática de lidar com esta última questão (o artigo dela é sobre assunto, mas refere este ponto de passagem). Não vou aqui discutir se faz sentido ou não haver dois géneros. Podem, de facto, haver muitos mais, e pode haver interesse, do ponto de vista social, avançar no sentido de eliminar a bipolaridade de géneros. Isso é trabalho para as gerações futuras. Kat Callaghan afirma apenas que esta não é a situação da sociedade actual. Por convenção social, temos dois géneros — dois comportamentos sociais distintos, com características diferentes (e, em certa medida, opostas entre si). A nossa sociedade actual está alicerçada neste princípio de bipolaridade de género: seja bom, seja mau, seja legítimo, seja desejável ou contra-producente, é o que temos, é assim que vivemos em sociedade, e por isso é deste pressuposto que também parto — sem prejuízo de concordar que, de futuro, deveríamos repensar melhor esta questão e avançar para sociedades com definições de papéis de género mais fluidas e diversificadas (como, por exemplo, na Tailândia, que reconhece socialmente vários géneros e mesmo a nível constitucional pretende legalizar o direito a um «terceiro género», tal como está a acontecer na Índia, no Paquistão e no Nepal).
Fora destas sociedades, e olhando para a nossa, temos de concluir que, hoje em dia, temos dois papéis de género que se opõem. O papel de género envolve, externamente (isto vai ser importante mais à frente), um comportamento social e uma apresentação (que, por sua vez, inclui o vestuário).
Mais uma vez, não me interessa discutir se este comportamento e apresentação estão correctos ou não, ou se a nossa sociedade deveria evoluir para alterá-los. No caso do papel de género feminino, como sabem, são as feministas que há um século que andam a redefinir esse papel e a propôr alterações. E evidentemente que os papéis de género não são fixos. Não nos comportamos, nem nos vestimos, como na Idade Média, ou como no século XIX. Há, pois, mudança constante, e continuará a haver. Mas não vou abordar esta questão de todo. Vou assumir, isso sim, que neste momento presente existem comportamentos e apresentações para cada um dos géneros, que são contemporâneos com a nossa sociedade actual. Mal ou bem, errados ou não, são os que temos.
Então se tivermos estes pressupostos em mente (e não outros quaisquer!), podemos olhar para a definição de crossdressing tendo em conta o momento presente, em que existe diferenciação entre os géneros — uma convenção social, nada mais — e em que essa diferenciação externa se manifesta em comportamentos e apresentação distintos. Quem faz crossdressing está, pois, a adoptar o comportamento e apresentação do género oposto ao que lhe foi atribuído à nascença.
Estou deliberadamente a escrever as coisas desta maneira porque esta definição de crossdressing não está, de todo, a abordar as questões (muito mais complexas!) de identidade, e muito menos de preferência sexual. Nada disso está implícito no comportamento e apresentação externos.
Evidentemente que isto abrange muitos casos, como o de actores de teatro e/ou cinema, ou de programas de TV, que usem temporariamente roupa do género oposto. Não há problema algum nisto.
Também não estou a falar de que o crossdressing tem de ser uma actividade permanente ou regular. Nada disso. Designa apenas um acto, isolado ou não. Ou seja, podemos apontar o dedo a um actor masculino que veste roupa feminina, e dizer: «Neste momento, este actor está a fazer crossdressing».
Do acto, no entanto, vamos ter de passar para o agente. E aqui as coisas começam realmente a complicar-se mais, pois um agente tem uma motivação. Como as motivações podem ser vastamente diferentes, também o tipo de agente (e a sua classificação!) será totalmente diferente — cada caso é um caso, como se diz habitualmente.
É aqui que a porca torce o rabo!
Vamos pegar nalguns exemplos mais comuns para perceber a dificuldade. Se metermos um cachecol verde e branco em volta do pescoço, exibirmos uma T-shirt a dizer «Viva o Sporting!», e no dia do jogo estivermos na fila para entrar no Estádio de Alvalade, é legítimo pressupor que estamos a falar de um fã do Sporting. Ou seja: analizamos o comportamento e a aparência da pessoa em questão — veste-se e comporta-se como um sportinguista — e induzimos que estamos, na verdade, na presença de um fã do Sporting. Os anglo-saxónicos têm uma velha expressão humorística para este tipo de indução lógica: If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.
A indução lógica é um processo de raciocínio válido, mas em que a conclusão não é certa. Ou seja, o melhor que podemos obter neste caso é uma probabilidade de que estamos, de facto, a chegar à conclusão certa. O importante aqui é perceber que podemos estar a cometer um erro de raciocínio.
Assim, no caso do fã do Sporting, é perfeitamente válido que a pessoa seja um fã do Benfica disfarçado, por alguma razão parva qualquer. Ou pode ser Carnaval. Ou pode apenas ter levado aquela roupa porque tinha sujado a sua roupa habitual, e era o que estava mais à mão, e só passou à frente do Estádio de Alvalade por mero acaso. Ou seja: podem haver milhares de razões para uma pessoa usar um cachecol verde e branco e uma T-shirt a dizer «Viva o Sporting!». A razão mais óbvia é que se trate, de facto, de um fã do Sporting; mas não é a única.
Se alguém conduz um táxi, podemos da mesma forma induzir que se trate de um motorista de táxi. Mas bem sabemos que isso não é verdade: a pessoa pode ter um segundo emprego, e que só dê umas «voltinhas» no táxi para ganhar uns cobres. Podemos, da mesma forma, usar múltiplos outros exemplos, mas o meu ponto é sempre o mesmo: a partir do comportamento e da apresentação de uma pessoa, podemos induzir o tipo de pessoa que ela é, mas apenas com um certo grau de probabilidade e nunca com um grau de certeza. E isto acontece porque o raciocínio indutivo é inerentemente incerto (revejam a página da Wikipedia para se relembrarem dos vários tipos de raciocínios lógicos).
O que isto quer dizer é que, se observarmos um homem genético a vestir roupa de mulher (a fazer crossdressing), não podemos, de todo, induzir nada sobre a forma como esta pessoa pensa. Podemos, isso sim, elaborar comentários mais ou menos correctos sobre os seus actos e a sua aparência.
No entanto, também é incorrecto dizer que é impossível de classificar adequadamente a motivação de uma pessoa que faz crossdressing. Podemos, através de padrões de comportamento, verbais e não-verbais, assim como através da sua apresentação, enquadrar o indivíduo em questão em determinados grupos, ou culturas, ou classificações.
Ora este é um argumento clássico em ciência. Curiosamente (ou talvez não!), era precisamente o que se estava a discutir noutro dia no Bar 106. Duas pessoas defendiam pontos diametralmente opostos. Dizia o Libertino que as motivações das pessoas são de tal forma distintas e individuais que não é possível fazer uma tipologia do crossdresser. E acrescentava que conhecia cem pessoas que faziam crossdressing, cada qual com uma motivação completamente distinta das restantes; havendo uma infinidade de motivações, uma por cada indivíduo, seria impossível classificá-los.
A Xaninha, por sua vez, apresentava o exemplo contrário. A ciência, explicava ela, tem constantemente de lidar com infinidades diversas de indivíduos e de os classificar. Isto faz-se justamente analizando padrões, e agrupando padrões semelhantes na mesma classificação. Um problema aparentemente insolúvel – inventar infinitas classificações para infinitos indivíduos – resolve-se assim escolhendo um padrão ou uma característica, identificando os indivíduos que apresentam essa característica, e excluindo os restantes; depois pega-se numa segunda característica e faz-se o mesmo; e assim por diante, de forma cada vez mais refinada. Vão, evidentemente, ficar indivíduos de fora. Vão haver alguns que serão de difícil classificação, e que poderão estar ou num caso ou no outro – ou em ambos simultaneamente. No entanto, para a maioria dos casos, conseguir-se-á ter uma imagem geral do tipo em que se enquadra. Sem, evidentemente, menosprezar as características únicas de cada indivíduo.
Podemos pegar num exemplo clássico da ciência: classificar as espécies vegetais e animais. A taxonomia, em biologia, é um caso clássico onde se apresentam classificações de acordo com determinadas características, e se diferenciam espécies consoante essas características. Estas classificações não são perfeitas, e por isso é que este trabalho nunca está terminado: ao longo dos séculos, as espécies vão mudando de um «ramo» da árvore de taxonomia para outro, à medida que se encontram melhores classificações que se adequam melhor à realidade observada.
Mas já Charles Darwin alertava para o problema destas classificações. Na altura, ao contrário do que muita gente pensa, já existiam muitos evolucionistas. O problema é que não se tinha proposto um mecanismo que explicasse como é que as espécies se diferenciam. Darwin, como sabemos, propôs como mecanismo a selecção natural. Mas explicou também que a maior dificuldade do taxonomista estaria em separar uma diferenciação entre indivíduos de uma mesma espécie, e a classificação desses indivíduos em duas espécies distintas, pois as classificações são arbitrárias, meras convenções.
Vamos a um exemplo concreto, a espécie humana. Não só temos vários tons de pele, como de cabelo, de olhos, etc. Mas variamos imenso em altura. Pigmeus podem só medir 1,40m quando adultos, mas jogadores de basketball facilmente atingem os 2,20m ou mais. Imaginem agora uma espécie alienígena daqui por centenas de milhares de anos que examinasse os esqueletos num cemitério: com tanta variedade de altura na idade adulta, seremos mesmo todos da mesma espécie, ou seremos uns gigantes, e outros anões, pertencendo a espécies diferentes?
Claro, dirão uns, podemos fazer análises ao DNA e ver que tanto os jogadores de basketball como os pigmeus têm DNA humano, e que a sua altura é apenas uma variação dentro da espécie, e não espécies diferentes. Podemos ir mais longe e olhar para os cães, provavelmente uma das espécies mais conhecidas que apresentam uma variação incrivelmente vasta em todas as suas características. Mas todos os cães têm o mesmo DNA. Todos se podem reproduzir uns com os outros (mesmo que nos seja difícil de imaginar um chihuahua a reproduzir-se com um S. Bernardo!). Ou seja: apesar desta incrível variação de formas e aspectos, e mesmo de comportamento, sabemos que podemos classificar todos os cães na mesma espécie, canis lupus familiaris. E isto porque partilham não apenas o mesmo DNA, mas um grande conjunto de características que lhes são comuns e que os distinguem, por exemplo, dos gatos (ou dos lobos).
Agora qualquer dono de um cão (ou gato) sabe que o seu animalzinho de estimação tem uma personalidade mesmo própria. Mesmo dois animais da mesma raça podem ter comportamentos, gostos e preferências diferentes. Podem haver características globais que sejam comuns a determinada raça, mas continuarão sempre a haver características individuais.
Se isso já acontece com cães, quanto mais com seres humanos – onde o que pensamos ainda é mais importante (do ponto de vista social!) do que a nossa aparência, já por si só também muito variada. Duas pessoas que sejam fisicamente parecidas não quer dizer que tenham a mesma personalidade (mesmo gêmeos idênticos serão um pouco diferentes!). Antes bem pelo contrário: é uma mera coincidência que assim seja, pois o que é natural é que cada pessoa tenha a sua personalidade bem distinta e individual.
Mas vamos voltar ao caso dos fãs do Sporting. Poderíamos generalizar e dizer que, regra geral, os fãs do Sporting se vestem de verde e branco, fazem parte da claque X, subscrevem o canal de TV do Sporting na televisão por cabo, e apoiam entusiasticamente o seu clube, falando constantemente mal do FC Porto e do Benfica. Isto é a ideia pré-concebida, estereotipada, que temos deles.
Mas todos também sabemos que isto não é universalmente verdade para todos os fãs do Sporting. Alguns, por exemplo, não se identificam com a claque X, mas sim com a Y — e não são «menos» fãs do Sporting por causa disso. Pelo contrário: até acusam os membros da claque X de não «encarnarem o verdadeiro espírito sportinguista», e, em vez disso, a claque Y, essa sim, é que é a «verdadeira claque sportinguista». Evidentemente que os membros da claque X dirão precisamente o contrário! Mas também há fãs que não são nem de uma claque, nem de outra; não se identificam com nenhuma; e vão até mais longe e dizem que são contra a noção de claques, que isso não tem nada a ver com futebol, e que a «verdadeira alma sportinguista» está presente naqueles que rejeitam o «espírito pernicioso das claques». Outros, por contraste, gostam tanto da claque X como da Y, acham que ambas são importantes, ambas são «verdadeiros sportinguistas a apoiar o clube», mas, por questões de falta de tempo e disponibilidade, não fazem parte de nenhuma. E alguns serão perfeitamente indiferentes e alheios às «guerras» de claques e acham que estas existirem ou não é absolutamente irrelevante, o que interessa é o futebol que se joga no campo…
Podia ilustrar isto com dezenas de mais exemplos futebolistas, mas tenho um problema complicado: é que eu não percebo nada de futebol, ao contrário de 99% das pessoas deste país. 🙂 Mas penso que, apesar disso, transmiti bem o meu ponto. Para quem é fã do Sporting, há evidentemente uma manifestação física desse apoio ao clube, que passa por cachecóis, bonés, T-shirts, um comportamento social durante os dias de jogo, etc., mas há algo de mais profundo, há a tal alma sportinguista, que está no interior de cada sportinguista e que só eles sabem o que é, mas quando a têm, sabem que a têm. Podem é manifestá-la ou não. Quando a manifestam, normalmente (mas não sempre!) fazem-no de acordo com um padrão estabelecido — uma convenção social.
Ou seja: nada impede que uma pessoa se vista de vermelho e que apoie o Sporting, com o mesmo entusiasmo de qualquer outro fã. Não é a roupa que determina o grau de fanatismo do clube. No entanto, nós só podemos julgar as pessoas pelo seu aspecto estranho, não pelo seu interior. Podemos apenas examinar o seu comportamento e a sua aparência, e, através destes, inferir — ou melhor, induzir — o que pensam e o que sentem. Alguém que se veste de vermelho e berra «Viva o Sporting!» parece estranho, quando o comportamento convencional (ou seja, cuja descrição é comumente aceite por todos, por convenção) é vestir-se de verde e branco. Ninguém proibe as pessoas de vermelho de berrarem pelo Sporting. E não podemos julgar, pela roupa vermelha, se essa pessoa é «mais sportinguista» ou «menos sportinguista» que os outros. No entanto, será mais natural ou normal (no sentido matemático: a maioria, a média das pessoas, a norma das pessoas) esperar que um sportinguista fanático se vista de verde e branco quando vai apoiar o seu clube.
Talvez a roupa seja menos importante do que o comportamento. Podemos justamente fazer parte daqueles que acham que as claques e o seu equipamento são pouco importantes; que se calhar nem é preciso estar vestido de verde e branco quando vamos sentarmo-nos nas bancadas a apoiar o Sporting. No entanto, seria muito estranho ver um adepto do Sporting gritar «Viva o Benfica!» no meio de um grupo de sportinguistas. Seria muito estranho que essa pessoa admitisse publicamente que era fã do Sporting, tão entusiasta e fanático como os restantes, mas que achava que tinha o direito de berrar o que muito bem entendesse para apoiar o seu clube. Está no seu direito gritar «Viva o Benfica!» apesar de ser sportinguista e apoiar o Sporting.
Mas este caso ilustra bem que o comportamento dessa pessoa está em total oposição às suas pretensões, à sua identificação com determinado clube. Isto não é errado. É apenas confuso. Porque existem convenções sociais (mais uma vez: não estamos a discutir se estas convenções devem existir ou não, se são estúpidas ou lógicas, ou se no futuro as devemos abolir ou não; o que me interessa é olhar para o momento presente e para as coisas tal como elas são, não como gostaria que fossem), esperamos que um fã do Sporting se comporte de acordo com a norma dos fãs do Sporting, ou, pelo menos, se não quiser seguir o estereótipo dos membros da claque, que ao menos também não tenha um comportamento contrário à norma.
Quer isto dizer que podemos ter uma norma estereotipada: a imagem ideal do «sportinguista perfeito», que sabemos não existir, mas que serve de referência para o comportamento e aparência. Será o tal indivíduo de camisola verde e branca, cachecol e boné da mesma cor, a berrar «Viva o Sporting!», e a fazer parte da claque X (ou talvez da Y). Se nos identificamos com o Sporting, adoptaremos pelo menos parte deste comportamento e aparência. Mas o que não vamos fazer é adoptar comportamentos e aparência da claque do clube contrário. Não é que seja proibido fazê-lo, mas é porque é confuso: as pessoas, se nos virem a aplaudir o Benfica e a vestir de vermelho, acharão muito estranho que admitamos ser na realidade fãs do Sporting!
Ora penso que isto é bastante óbvio para a maior parte das pessoas, e não precisamos de usar exemplos extremos como as claques de futebol; apenas gosto deste exemplo porque, por ser extremo, é mais fácil de compreender.
No dia-a-dia também adoptamos várias normas e comportamentos sociais que estejam em conformidade com a identificação que pretendemos transmitir (ou manifestar) a terceiros. Assim, se somos bancários ou advogados, do sexo masculino, é normal estarmos de fato e gravata, pois é assim que a convenção social o determina. Provavelmente ninguém irá despedir um bancário ou um advogado se este se esquecer da gravata. Mas se este aparecer de fato de banho e de crocs ao emprego, o chefe vai-lhe dar uma descasca das valentes! Porquê? Temos liberdade de expressão, que inclui a forma como nos vestimos. Não é por estarmos de fato de banho e crocs que vamos ser piores bancários ou advogados; afinal de contas, não é o hábito que faz o monge, certo?
Certo. No entanto, as normas e convenções sociais existem para limitar a confusão e manter uma certa ordem social. Se entramos num banco, esperamos ser atendidos por pessoas imaculadamente vestidas, com aquilo que se convencionou ser a norma de vestuário para bancários. É apenas uma convenção e nada mais (e que muda com os tempos: os bancários já não andam de cartola, por exemplo). Mas enquanto convenção ajuda a estabelecer uma identificação. Entramos num banco e se virmos um homem de fato e gravata sabemos que é provável que seja um funcionário do banco. Se estiver de fato de banho e crocs deve ser um turista.
Volto a insistir: não estou aqui, de forma alguma, a fazer um apelo à reinstauração da lei de moral e bons costumes, que obrigava toda a gente a vestir-se de uma certa maneira, e tudo o que não estivesse estipulado na lei, era punido com prisão. Não estamos a falar de um regresso ao Estado Novo! Não me interessa sequer fazer juízos morais, ou considerações filosóficas — «porque é que achamos que os bancários masculinos devem atender as pessoas de fato e gravata? Em que medida é que isso ajuda-os a desempenharem melhor o seu trabalho?» Apenas estou a colocar-me na posição do observador. Estas são as convenções sociais que temos. Não estou a julgá-las a dizer se são boas, más, certas, ou erradas. Estou apenas a observar e a dizer: em Portugal, no ano de 2015 (quando escrevo este ensaio), estas são as convenções sociais que temos. Podemos discordar delas e rejeitá-las, mas são as que temos.
Devo apenas insistir que existe uma utilidade para estas convenções sociais; elas têm uma função. Isto é uma visão utilitarista das convenções sociais. Um exemplo típico: os polícias usam uniforme para que os possamos identificar com facilidade quando precisamos de ajuda. Se os polícias andassem todos à paisana, e estivéssemos na rua à procura de um polícia para pedir ajuda, seria demasiado confuso e difícil encontrar um. Eles usam uniforme justamente para se destacarem e serem imediatamente reconhecidos. E em conjunto com o uniforme, também adoptam um comportamento, são uma «autoridade» e estamos à espera que se comportem como tal. Quando não o fazem, não só achamos estranho e confuso (pode ser alguém mascarado no Carnaval!), como podemos mesmo ficar ofendidos e denunciar o caso, fazendo queixa!
Portanto há pelo menos alguma utilidade (não vou discutir se é muito útil ou pouco útil) que se adoptem certos padrões sociais, que incluem o comportamento e a apresentação (que passa pela roupa). Nem sequer vou afirmar que essa utilidade existe em todos os casos, vou apenas dizer que existe nalguns casos, e penso que concordarão comigo pelo menos neste ponto, mesmo que discordem de tudo o resto!
A propósito, isto faz-me recordar justamente um episódio que demonstra claramente este princípio. Quando estava na tropa como recruta, aprendíamos que tínhamos de saudar com a continência (e eventualmente um cumprimento) todas as patentes superiores. A início, treinávamos com os nossos instrutores, mas esperava-se que, logo após as primeiras aulas de treino, o fizéssemos com todas as restantes patentes. E avisaram-nos que éramos militares dia e noite, dentro e fora do quartel — mesmo que estivéssemos de licença, à paisana, não deixávamos de ser militares e estarmos sujeitos aos regulamentos militares, pelo que evidentemente que tínhamos de fazer a continência, ou pelo menos uma saudação, sempre que encontrássemos patentes superiores à nossa, mesmo na rua, mesmo durante o período de licença.
Claro que na tropa isto é fácil, porque todos os uniformes têm as patentes à vista.
Já nessa altura, um terço do exército português era feminino (penso que hoje a percentagem se calhar ainda é maior). Dos meus três instrutores, duas eram mulheres — sargentos. Durante a instrução, só as vi de uniforme, sem maquilhagem, com o cabelo preso por baixo do quico (boné). Nem sequer as olhávamos muito de perto, porque era logo ocasião para ouvirmos uma boca foleira; no exército, não há homens nem mulheres, há apenas soldados. Os uniformes femininos não são particularmente sexy e acabam por disfarçar praticamente todo o tipo de formas; gordas ou magras, novas ou velhas, por baixo do uniforme, ficavam todas iguais.
Uma noite estava eu a sair de licença do quartel, tendo já vestido a minha roupa civil. Era já depois do jantar e na zona (Sacavém) não estava muita gente na rua. Na altura ainda não tínhamos autorização para estacionar os carros dentro do quartel, pelo que os estacionávamos cá fora, pois àquela hora já não haviam transportes públicos. Vi então cá fora, assim de relance, duas mulheres que estavam mesmo já arranjadinhas para ir para uma discoteca ou bar «da pesada» — eram novinhas, todas curvilíneas, meias de rede, saltos de 15 cm, mini-saia em cabedal, uns cabelos longos e sedosos que lhes chegavam abaixo da cintura, e top justinho que só enaltecia os avantajados seios. Apesar disso, eu não queria confusões, nem sequer olhei duas vezes, e segui em frente sem prestar mais atenção.
Nisto ouço atrás de mim um berro da minha instrutora, daqueles gritos estridentes e roucos que se ouvem em toda a parada, e que fazem gelar o sangue dos recrutas. «Eh Cadete Lopes! Páre aí!»
Imobilizei-me já a tremer. Que é que teria feito mal agora? Fiz uma nota mental de tudo o que tinha feito: tinha o papelinho da licença devidamente assinado, a roupa regulamentar para sair à civil estava limpa e arranjada, o uniforme guardado no saco, tinha apresentado a licença ao sentinela, tinha feito a saudação colocando-me em sentido (como não estava de chapéu, em Portugal não se faz continência descoberto), cumprimentei a sentinela com educação e cordialidade… não parecia ter-me esquecido de nada. E pensava que as minhas instrutoras já tinham saído, normalmente as patentes mais elevadas saiem antes dos recrutas. Mas era normal estarem sempre a pregar-nos partidas. Deviam ter estado à espera à porta d’armas sem que eu me apercebesse de nada, a ver se eu fazia algo de errado. E devia ter feito. Bolas, pensei eu, lá se vai a licença, lá vou ter eu de passar o fim de semana no quartel…
«Meia-volta, volver!» lá berrou a minha sargento, e eu, claro, instintivamente obedeci. Mas o mais esquisito é que não vi onde é que ela estava. É verdade que estava escuro, e que a voz dela ouve-se sempre muito bem, e devia estar escondida algures. Mas não estava a perceber onde é que ela estava!
«Aproxime-se, Cadete Lopes!» vem de novo a ordem. Mas aproximar-me de quê? Ou de quem? Seja como for, obedeci, voltando para trás, e olhando para o lado da porta d’armas, tentava em vão descortinar onde é que a minha sargento estava escondida, mas sem sorte alguma.
Nisto, num tom de voz um pouco mais baixo, mas sempre com a mesma aspereza e rudeza de sempre, noto que a voz vem do lado das duas miúdas giraças que tinha visto há bocado, e uma delas disse: «Então ó cadete, não sabe que se cumprimenta os superiores mesmo fora do quartel?»
A minha cara de espanto ao aperceber-me finalmente que a voz da minha sargento saía daquela boazona toda descascada deve ter sido de tal forma visível, mesmo com pouca luz, que as duas se desataram a rir às gargalhadas com o meu embaraço. Mantive-me em sentido, com os olhos esbugalhados, e não queria acreditar no que via, pois a verdade é que as duas estavam completamente irreconhecíveis. Não havia absolutamente nenhum traço que me permitisse identificá-las. Na realidade, eram pouco mais velhas que eu (tinha 27 anos na altura), mas eu sempre assumira que fossem muito mais velhas. Assim todas produzidas e com uma maquilhagem bem aplicada, pareciam ter 18 anos. Pior que isso: não via mais nelas «as minhas instrutoras» ou «as minhas sargentos», mas meramente umas mulheres altamente desejáveis em roupa provocadora e sexy. O que só as fez rir e rir, pois sabiam perfeitamente o que é que eu estava a pensar: que era mesmo impossível tê-las identificado, da forma como estavam vestidas.
«Pois, ó cadete, nunca nos viu à civil, pois não? Vá, veja lá se presta mais atenção de futuro! Tenha um bom fim de semana e uma boa noite! Conduza com cuidado!» lá disse uma delas na sua voz de instrutora, e seguiram caminho as duas, ainda perdidas de riso.
Ora este é um exemplo bem claro do que estava a tentar explicar. Fora de contexto, é difícil identificar o que as pessoas são, apenas pela sua aparência e comportamento. Um militar júnior não está à espera de encontrar uma patente superior na pessoa de uma mulher sexy. Dentro do quartel não há nem tempo, nem oportunidade, para pensar nessas coisas. As minhas duas instrutoras aproveitaram-se justamente desta descontextualização para criarem, deliberadamente, uma situação hilariante e divertirem-se às minhas custas (durante semanas passei a olhar com tripla atenção para todas as mulheres que via na rua, não me fosse cruzar de novo com alguma que fosse do meu quartel…). Isto porque não associamos uma instrutora militar a uma mulher em mini-saia e meias de rede com saltos altos. As convenções sociais são diferentes.
Tenho também um outro exemplo de desrespeito das normas sociais, que ocorreu na faculdade. Nessa altura, toda a gente — sem excepção, incluindo professores — vestia jeans e T-shirt ou camisa de flanela aos quadrados no inverno. Como havia professores muito novos, e alunos repetentes muito velhos, nem sempre era fácil distinguir uns de outros. O ambiente era muito relaxado e informal. Toda a gente se vestia mal, e era esse o «espírito académico».
Um dia, um colega meu e eu decidimos que íamos passar a ir de gravata para as aulas, como forma de divertimento e de «rebeldia», mas pelo inverso! Mais ninguém usava gravata em toda a faculdade, pelo que fomos obviamente alvo de grande galhofa, mas esta «rebeldia inversa» divertiu-nos aos dois imenso. Os professores riam-se de nós, até que entrámos numa aula do professor mais maluco e caótico que tínhamos — era de longe o que se vestia da forma mais absurda, muitas vezes estava de calções de banho e sandálias, sentava-se em cima da mesa (quando não estava aos pulos em cima desta para nos chamar a atenção), fumava nas aulas (eram aulas teóricas, cuja presença era facultativa, pelo que ele dizia que quem se sentisse incomodado podia saír à vontade), e nem sequer cortava o cabelo ou a barba. E provavelmente só tomava banho na praia 🙂 Mas fora isso era um excelente professor, embora fosse completamente excêntrico.
Quando nos viu aos dois todos engravatadinhos, o homem ia tendo um colapso. Em vez de gozar connosco, disse-nos apenas, chocadíssimo: «Ouçam lá, mas vocês são loucos ou quê? Não podem andar assim nas aulas! Nesta faculdade ninguém anda de gravata, nem sequer o director, a não ser quando vem cá o primeiro-ministro ou o presidente da república, e mesmo assim, sob protesto! Vocês são uma desgraça para a nossa faculdade! Até nos dão mau nome! Tirem lá essa porcaria do pescoço e portem-se como deve ser!» Risada geral da turma, até porque ele dizia estas coisas todas com um ar muito sério, a tremer de ansiedade.
Mais uma vez era uma questão de contextualização e de convenção social. Naquela faculdade, por convenção, os homens não usavam gravata, ponto final. Podiam usar o que quisessem, menos fato e gravata. Talvez se tivéssemos entrado na sala de aulas vestidos de mulher tivéssemos passado mais despercebidos do que com uma gravata 🙂 Ao violar as convenções sociais, que são arbitrárias, recebemos uma «reprimenda», mesmo que, claro, não fosse muito a sério (a verdade é que deixámos de andar de gravata pouco tempo depois).
Quem define estas normas de comportamento e vestuário? Não é fácil apontar o dedo e dizer, «foi este!». No caso do Sporting, é plausível que tenham sido os fundadores que escolheram as cores do clube. Podiam ter escolhido outras quaisquer. Acharam por bem que fosse o verde e o branco. Uma vez escolhidas, no entanto, tomaram uma decisão que se perpetuou por gerações: o Sporting Clube de Portugal é um clube verde e branco, ponto final.
Mas noutros casos as coisas são bastante mais vagas. Os exércitos medievais não tinham uniformes; o que causava confusão no campo de batalha; por isso passaram a usar distintivos — brasões, marcas, e também cores — para se distinguirem melhor os amigos dos inimigos. Aos poucos isto evoluíu para que tivessem uniformes. Veja-se a confusão na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, com a Ucrânia a apontar que os tais «separatistas pró-russos» usam uniformes do exército russo, mesmo que lhes tenham arrancado as patentes e os distintivos; ao passo que a Rússia, por sua vez, nega que sejam militares russos, mas apenas voluntários que «por acaso» tenham adquirido uns uniformes «parecidos» (mas não iguais) aos do exército russo.
Ou seja: não é sempre claro quem é que define as regras e as convenções sociais. Pode haver uma origem no tempo, mas, regra geral, é algo de mais fluido, de mais vago e disforme. Levou algum tempo, por exemplo, até que as claques de futebol não se limitassem a vestir roupas da cor do clube, mas que passassem a usar maquilhagem no rosto com as mesmas cores, e até que pintassem o cabelo da cor do clube. Todas estas regras e convenções foram adquiridas ao longo do tempo, por vezes por simbolismo, por vezes por imitação («se o clube X faz isto, nós também fazemos!»), por vezes por uma questão de originalidade, por vezes por questões práticas e funcionais (por exemplo, os uniformes da polícia no Verão têm mangas curtas, pois o Verão português é quente, e era uma tortura estar a obrigar os pobres agentes a estar a suportar o calor todo no pico do Verão em camisa de manga comprida e casaco).
Mas acho que chega de exemplos! Voltemos, pois, ao crossdressing.
Ao contrário dos exemplos que dei, normalmente existe uma função utilitária associada à convenção social, e esta normalmente é unívoca. Ou seja, se me visto de fã do Sporting, é porque sou fã do Sporting. O reverso é verdade: se sou fã do Sporting, visto-me de forma a parecer-me com um fã do Sporting. O mesmo se aplica ao caso do exército, da polícia, ou aos funcionários dos bancos, e aos advogados, e assim por diante.
Mas no crossdressing isto não é bem assim. Só o indivíduo que faz crossdressing é que sabe as verdadeiras razões pelo que o faz. E, como apontei anteriormente, há tantas razões para o fazer, que é muito difícil inferir ou induzir as razões para o crossdressing meramente a partir do vestuário e do comportamento.
Difícil sim, mas não impossível. E é aqui que as coisas se começam a complicar. Como tenho vindo a dizer nos meus artigos (especialmente nos em inglês, mas não só), o principal grupo de pessoas que faz crossdressing é com intenções fetichistas, seja fetichismo de objecto — o mero prazer despoletado por usar roupas de mulher — ou fetichismo de comportamento, ou seja, a intenção de atrair parceiros sexuais que partilhem do fetiche de ter sexo com um homem vestido parcial ou integralmente de mulher.
Na mente do público em geral, por este ser o principal grupo, é frequentemente associada a imagem do crossdresser a alguém que só tem como objectivo a procura de parceiros sexuais para uma relação fetichista.
No entanto, há um segundo grupo que, para já, vou apelidar de crossdressers não-fetichistas, em que o sexo não é a única razão para que se vistam com a roupa do género oposto, nem sequer é a principal razão, embora possa também, claro, ser uma das razões.
Este grupo, apesar de ser muito pouco numeroso, é no entanto aquele que é mais heterogéneo. Tanto assim que é justamente dentro deste grupo que há maior divergência entre o que é realmente «uma verdadeira crossdresser» e o que não é.
O problema principal destas definições das «verdadeiras crossdressers» é que no fundo são sempre propostas por alguém que se define como «verdadeira crossdresser», faz uma lista das suas próprias características, e que, quando encontra alguém que tenha as mesmas características, vai assumir que se trata igualmente de outra «verdadeira crossdresser». Como é evidente, cada pessoa terá uma lista de características diferente, pelo que este grupo inevitavelmente será extremamente fragmentado.
Ora não me interessa, pessoalmente, definir o que é «uma verdadeira crossdresser» porque obviamente que irei cair precisamente no mesmo erro. Em vez disso, irei apenas observar quais são as características que podemos encontrar que sejam comuns a uma definição funcional para o crossdressing.
Mas tenho de elaborar um pouco mais. O que quer dizer «funcional» neste contexto?
Bom, estou a focar-me essencialmente na actividade social, ou seja, da integração da pessoa que faz crossdressing na sociedade em geral. Esta é, obviamente, uma abordagem possível, mas não a única, e já vamos ver porquê.
Quando os fãs do Sporting (para voltar sempre ao mesmo exemplo!) se reunem em carrinhas e vão ver um jogo, ou mesmo quando se juntam uns amigos em casa para umas cervejas e uma sessão frente à televisão (quando o Sporting joga fora e não há dinheiro ou disponibilidade para a viagem), está-se a criar um contexto social diferente. Ou seja: é no contexto de um jogo do Sporting que os fãs se comportam como fãs e se vestem de fãs. No dia-a-dia, um bancário não vai usar um cachecol e uma T-shirt verde e branca. Pode talvez ter um pin discreto na lapela com o logotipo do Sporting, mas usará fato e gravata. No entanto, à noite, com os amigos, quando estiver a dar o «tal» jogo na TV, tira o fato e gravata e usa o «equipamento de fã do Sporting». Mudou de contexto social.
O caso dos fãs de um clube de futebol são um exemplo claro de como determinados comportamentos e aparência são apenas toleráveis e aceitáveis fora do contexto do quotidiano. Ou seja, são contextos fechados. Existem, em certa medida, em isolamento da sociedade. Talvez seja melhor usar a expressão gueto: dentro de um grupo de fãs do Sporting, que se juntam com determinado pretexto, é aceitável vestir-se de verde e branco e berrar «Viva ao Sporting!». Fora desse contexto, esse comportamento não é visto com agrado — não é socialmente aceite.
Já o polícia que está de uniforme é uma situação completamente diferente. O polícia é sempre polícia, e veste-se sempre de polícia, seja qual for o contexto — até mesmo quando está de serviço a um jogo do Sporting. Há, obviamente, razões para isso; o contexto do polícia não é o mesmo do fã do Sporting, porque há razões funcionais para não o ser. Queremos que o polícia seja facilmente identificável, seja em que situação for, para lhe pedirmos ajuda. Assim, o polícia veste-se e comporta-se de polícia em todos os contextos sociais. Excepto, claro está, quando não está de serviço; aí «larga» o contexto, e adopta o comportamento e vestuário convencional para qualquer outro civil. Pode até ir ver um jogo do Sporting, mas sem estar de serviço, e, nesse contexto, pode usar o verde e o branco.
Há, pois, diferenças entre ambos os casos, e isto aplica-se a imensos outros exemplos. Na nossa sociedade, esperamos que as forças uniformizadas (o que inclui os padres, os médicos e enfermeiros, etc.) representem determinado tipo de valores, tenham determinado tipo de comportamento e atitude, e uma certa apresentação, independentemente do contexto em que estão. Não esperamos que um padre católico large a batina e que de repente comece a namoriscar umas raparigas jeitosas na praia! Não é que intrinsecamente exista algo de «errado» nesse comportamento, mas não é funcional. A nossa sociedade não funciona assim. E, mais uma vez, não estou a questionar se a sociedade não deveria funcionar de forma diferente; estou apenas a dizer como ela é neste momento, sem passar julgamentos éticos ou morais.
Assim, coloco aqui as minhas hipóteses. Uma crossdresser pode optar essencialmente por duas situações: um contexto fechado, de gueto, onde só está crossdressed com determinados objectivos e fins, e, como tal, pode apresentar o comportamento e aparência que seja mais apropriado para essa situação; ou pode optar por um contexto aberto, ou seja, expandido a todos os contextos sociais possíveis.
Neste último caso terá de necessariamente adoptar um comportamento e aparência que sejam funcionais e apropriados para a totalidade dos contextos.
É aqui que reside justamente o problema: é que a nossa sociedade ainda não desenvolveu normas, padrões, linhas de orientação para que se possa dizer quais são os comportamentos e a aparência adequadas. Pura e simplesmente não existem. Isto não é universal, claro; nos exemplos que referi, no Extremo Oriente, existem de facto essas normas e padrões — em certos casos, há milhares de anos — e as pessoas que fazem crossdressing sabem efectivamente o que fazer. O reverso é igualmente verdade: nessas sociedades, a população em geral reconhece também as normas que definem o comportamento e a aparência daqueles que se apresentam com um género diferente com o que lhes foi atribuído à nascença. É importante dizer também que estamos a falar de situações ideais; a realidade evidentemente que não é tão simples.
No contexto europeu em que Portugal se integra, pura e simplesmente não há «papel social» para crossdressers. A razão principal é que o seu número é reduzido; e séculos de moralidade estipulando normas bem rígidas para o género (e a orientação sexual «apropriada» ao género) excluiram da sociedade esse tipo de «papel».
Por uma questão de consistência na argumentação, vou deixar de parte o crossdressing activista, ou seja, quem faz crossdressing essencialmente com o objectivo de questionar as normas sociais e de incentivar assim uma mudança social, transformadora da sociedade, que aceite de forma melhor o crossdressing. É uma posição que é defendida por algumas pessoas, como é evidente, mas não o será de determinados grupos.
Em vez disso, vou voltar à questão do crossdressing funcional. Notem que continuo a seguir o mesmo presssuposto: que estamos a tratar do caso (que é o em menor número) daquelas pessoas que fazem crossdressing sem que a sua intenção principal seja o fetichismo de objecto ou comportamento. É que este ocorre sempre em contextos fechados, e, como tal, não requer grande elaboração. Por isso posso falar talvez com mais brevidade deste caso em primeiro lugar.
Quando o crossdressing é relegado para a privacidade dos espaços (a casa, um hotel, etc.), e que tem como função o estímulo do prazer sexual, o contexto é de tal forma fechado que não há necessidade de o definir. As fantasias sexuais, aquilo que se passa na cama por trás de uma porta fechada, fica ao critério de cada um. E porquê? Porque, por definição — pelo menos nos estados de direito democrático em que o direito à privacidade é garantido, como é o caso do nosso — aquilo que as pessoas fazem em casa (ou em espaços de acesso restrito), desde que não seja ilegal (que não se cometa nenhum crime!), fica ao critério de cada um, e ninguém tem nada com isso. Não são precisos nem direitos, nem convenções, nem regras, nem orientações para este tipo de casos. Cada qual faz o que quer — desde que o faça em privado. É por isso que os contextos fechados são muitas vezes mais fáceis de tratar (mesmo que sejam mais difíceis de estudar!).
Onde existe maior dificuldade é quando o contexto do crossdressing é aberto, ou seja, público. Nesse caso existe interacção social, e, quando esta existe, inevitavelmente terá de seguir convenções sociais. Mais uma vez: não estou, de todo, a dizer que essas convenções sociais são «correctas» ou «boas». Estou apenas a dizer que existem. Não estou a dizer que não possam ser quebradas. Estou a dizer que é mais funcional se estas convenções forem respeitadas. Isto porque construímos as nossas sociedades tendo por base essas convenções; respeitamos quem as respeite; aceitamos quem as siga; rejeitamos/excluímos aqueles que as queiram quebrar. Isto pode ser injusto, errado, ou imoral, ou o que quiserem chamar, mas é o que temos: é assim que a nossa sociedade presente funciona, bem ou mal.
Formulo, pois, uma hipótese. Se o contexto social e o papel social da crossdresser não existe (e realmente verifico que assim é), mas mesmo assim pretendemos obter uma certa aceitação — funcional — do estatuto de crossdresser (enquanto praticante do acto de vestir roupas do género oposto ao que nos foi atribuído à nascença), então postulo que a forma mais funcional de o fazer (que pode não ser a «melhor» — pois o que é bom ou mau depende do critério de cada um) é assumir o papel social do género com que nos apresentamos em público.
Ora isto parece uma tautologia! Se somos homens e nos vestimos de mulheres, comportamo-nos como mulheres. Certo?
Bom, não necessariamente. Como volto a referir pela enésima vez, há milhares ou milhões de razões para o crossdressing. As fetichistas, por exemplo, não têm muito interesse em «comportarem-se como mulheres»; basta-lhes por vezes a aparência de mulheres para se excitarem. Mas mesmo entre as não-fetichistas, não há forçosamente o interesse num comportamento como «mulher» (e também o teremos de definir). Mais especificamente, não há sempre a intenção de apresentar um comportamento de um certo tipo de mulher, mas, em vez disso, a crossdresser pode propôr um outro tipo de mulher, aquele com que se identifica mais.
Portanto, não basta dizer simplesmente que a forma mais funcional de uma crossdresser estar em público é «comportar-se como uma mulher», porque as mulheres comportam-se de milhões de maneiras possíveis. Qual é a «certa» e qual é a «errada»?
Terei de insistir que não existe, de facto, uma forma de comportamento «certa» ou «errada». Toda a gente que tenha tido uma filha rebelde que se recusa a comportar-se de acordo com certo padrão estereotipado sabe perfeitamente que o que não falta mais por aí é gente (de ambos os géneros!) a rebeliarem-se contra os padrões e normas estabelecidos.
No entanto, devemos ter cuidado para não tomar as excepções pela regra. Este é um tipo de falácia muito frequente. Encontramos um, dois, dez, cem casos de excepções, e achamos que tudo são excepções; mas podem justamente existir milhões de casos que não o são.
Diria, pois, que existem um conjunto de regras, de padrões, de comportamentos, de atitudes, até mesmo de linguagem e vocabulário, que, em média, identificam o comportamento do género feminino. Estou aqui a falar de médias. Por exemplo, em média, as mulheres têm o cabelo mais comprido que os homens. Não quer dizer que não hajam milhares, ou dezenas de milhares, ou mesmo centenas de milhares de excepções. Quero apenas dizer que em média isto acontece desta forma. Depois há infinitas variações, mesmo dentro da média, e infinitas maneiras de usar o cabelo.
Não podemos generalizar e dizer que, quando vemos alguém de cabelo comprido na rua, se trata sempre de uma mulher. Mas em média, se fizermos essa afirmação, vamos estar correctos. Muitas vezes estaremos errados: não há absolutamente nada que impeça que um homem deixe crescer o cabelo (e cada vez são mais a fazê-los; e noutros séculos, por exemplo, a norma era precisamente a contrária — os homens é que tinham os cabelos compridos). Mas em média, a maioria dos homens — na verdade, a esmagadora maioria — não o faz, mesmo que o possa fazer e que ninguém tenha o direito de lhe impedir que o faça.
Da mesma forma, em média, quanto mais idosa for uma mulher, mais curto será o seu cabelo. Esta não é uma regra imposta por absolutamente ninguém. É, mais uma vez, uma observação que está de acordo com a realidade — e mais uma média. Há, evidentemente, imensas excepções. A minha tia a partir dos 30 anos sempre usou o cabelo curto, e nessa altura, tinha-o rapado à escovinha. À medida que ia envelhecendo, deixava o cabelo crescer mais um bocadinho. Hoje em dia, e apesar de todos os anos estar um bocadinho mais comprido, ela usa-o ainda muito curto, muito mais curto até que muitos homens, mas a verdade é que ela não seguiu esta regra — mas sim o seu oposto. Ora a excepção não invalida a regra. O facto de haverem milhares ou milhões de mulheres a seguirem a mesma regra que a minha tia não quer dizer que, em média, a maioria das mulheres façam o mesmo; na realidade, a maioria faz precisamente o oposto que a minha tia.
Podemos assim seguir muitas mais regras, seja de vestuário, seja de comportamento. Esta lista é infindável: dependendo do que nos interessa mais a dado momento, podemos observar o que a maioria das mulheres faz ou usa ou diz, e determinar um comportamento mediano. Mas talvez não precisemos de ser tão exaustivos como isso (até porque este ensaio já vai longo!).
Em vez disso, prefiro deixar esta «definição» um pouco vaga, até por uma questão de respeito pela individualidade de cada mulher, que se arranja e se veste e se comporta como muito bem apetece. No entanto, a maioria delas, por mera convenção social, tende a comportar-se e a apresentar-se de forma semelhante (não igual!) nos mesmos contextos sociais.
Assim, quando estão na praia a apanhar sol no Verão, estão de biquini ou fato de banho. Não há nada que as proíba de estarem de sobretudo! Ou de vestido de noite! Mas a maioria não o fará; o contexto social da praia é diferente do contexto do inverno (não é preciso sobretudo), ou de uma saída para uma gala ou espectáculo. No entanto, se forem de noite à praia, para assistir justamente a uma gala que está a ser feita na praia, é natural que usem um vestido de noite e não um biquini.
Estes contextos sociais são todos arbitrários. E, uma vez mais, não os estou a questionar. Não há nada que obrigue o noivo e a noiva a vestirem a roupa típica dos casamentos. E muita gente não o faz. No entanto, a maioria segue a convenção social. Tenho um amigo meu, libertário de direita, que para além de cromo informático também foi músico amador de hard rock (o irmão seguiu mesmo a carreira profissional, mas ele virou-se para os computadores). No entanto, quando se casou, decidiu ter um casamento convencional num espaço que na altura estava na moda. E vestiu-se de forma convencional. Quem o conhecesse nessa altura provavelmente não o reconheceria, pois ele era completamente rebelde e desrespeitava todas as normas e convenções sociais. Mas o casamento, para ele, era mais importante que a sua «rebeldia». Por respeito para com os convidados e família (a noiva também era bastante radical…), achou melhor adoptar o comportamento da maioria das pessoas. Mesmo que lhe custasse imenso fazê-lo. E mesmo assim não foi inteiramente convencional, pois deu um espectáculo de hard rock aos convidados em que esteve a tocar guitarra com o irmão e o resto da banda, ainda vestido de fraque e sapatinhos de verniz.
Podemos evidentemente questionar se todos estes contextos sociais fazem sequer sentido, ou se não são absurdos por serem justamente tão arbitrários. Mas eu continuo a insistir na funcionalidade. Questionar e rejeitar os contextos sociais é positivo, porque faz com que uma sociedade não estagne — é preciso, de vez em quando, «empurrar» a maioria para fora da sua zona de conforto, para que haja uma evolução social. No entanto, se o objectivo não for o activismo, ideológico ou filosófico, o que é mais funcional é aceitar que existem realmente contextos sociais e normas, e enquadrarmo-nos dentro destas, sem, no entanto, perder a nossa individualidade.
Estamos muito longe dos tempos em que certos contextos sociais ditavam as regras até ao último pormenor, como se lê nos livros de etiqueta do século dezanove. Temos muito mais liberdade individual que isso. No entanto, mesmo dentro dessa liberdade, há algumas regras que podemos respeitar — se o nosso objectivo for o de conquistar o respeito pelos outros.
Assim, o meu postulado é que as crossdressers, se pretenderem ser socialmente aceites — não interessa muito bem como são aceites, se como homens, se como mulheres, se como «coisas esquisitas que não são nem carne nem peixe» — então devem preferencialmente seguir as convenções do género que manifestam exteriormente. Se for o género feminino, então devem seguir as convenções do género feminino seguidos pela maioria.
Na minha forma de pensar, é um sinal de maturidade compreender que estas convenções existem, saber aceitá-las, sem no entanto perder a nossa individualidade no processo. Um exemplo típico: socialmente, numa ocasião festiva mas formal, uma mulher pode usar saltos da altura que quiser. Não há nada que a proiba de usar saltos rasos se forem mais confortáveis; mas também pode usar saltos de 15 ou 20 cm se o quiser fazer. No entanto, se a ocasião for muito formal, não se está à espera que use saltos de 20 cm em metal com picos, com plataformas de 5 cm com LEDs a piscar, e sola de pneu de tractor. Esse tipo de saltos é apropriado para miúdas de 15 anos quando querem impressionar os amigos, mas não é adequado para uma ocasião formal. Não quer dizer que não hajam estrelas de cinema excêntricas que não o façam. Quer dizer, isso sim, que a maioria das mulheres não o fará. Aqui a maturidade está em perceber que, mesmo dentro do contexto da ocasião formal, há imensa liberdade de escolha possível — os extremos são na realidade muito distantes! — mas existe um limite, a partir do qual se está a quebrar as convenções sociais estabelecidas para o género feminino.
O facto de existirem imensas mulheres excêntricas — e as estrelas da música, da TV, do cinema são exemplos disso — que estão constantemente a violar as normas, para chamarem a atenção da comunicação social e perpetuarem a sua fama, não quer dizer que a maioria das mulheres se comporta dessa forma.
Ora as mulheres em geral têm um processo de formação em que aprendem estas normas e as adquirem. Começa por ser a mãe que as ensina, e depois as amigas, as colegas de trabalho. Claro que o contexto social também tem imensa influência; mais uma vez não se pode generalizar. O clássico My fair Lady ilustra bem este ponto: uma vendedora de flores, pertencendo ao mais baixo extracto social, e sem qualquer educação ou noção das normas da sociedade (excepto àquelas imediatamente acessíveis ao seu extracto social), pode ser educada para que se comporte como realeza. É tudo uma questão de comportamento, de vocabulário, de conversa, e também de aparência.
Claro que My fair Lady é uma obra de ficção, e que a nossa sociedade europeia já não está tão estratificada — antes bem pelo contrário! — e que, além disso, existe muito mais liberdade individual do que normas estritamente rígidas que todas as mulheres têm de seguir durante todo o tempo. Mas mesmo assim continuam a existir algumas convenções sociais.
É no meu entendimento que nós, crossdressers MtF, só temos a ganhar (e estou a falar essencialmente de obter respeito e aceitação) se seguirmos as normas da maioria, em vez de tentarmos impôr as nossas normas, por rejeitarmos as normas dos outros. A maturidade encontra-se justamente neste reconhecimento: de que podemos aceitar as normas dos tais «outros» — e adquirir assim o seu respeito! — sem perder a nossa individualidade, que nos permite, de forma criativa, dentro do contexto em que estamos inseridas, exprimirmo-nos de forma única.
No grupo em que estou inserida, é essa imagem que estamos (lentamente!) procurar transmitir, não só a todos os membros, como, aos poucos, também ao público em geral. Partimos de várias ideias de base, e a primeira é que reconhecemos a existência de dois géneros principais na nossa sociedade (com uma variedade de nuances pelo meio), com os quais a maioria das pessoas (mas não todas!) se identifica. Manifestamo-nos de acordo com o género feminino que a maioria reconhece, efectivamente, como tendo características que são em média consideradas femininas. Respeitamos obviamente a existência de todas as variantes e possibilidades; mas, por opção, identificamo-nos com a média dessas características, exibidas pela maioria das mulheres. Isto sem nunca rejeitarmos a nossa individualidade (e a dos restantes membros, cada qual com a sua personalidade, desejos, e motivações diferentes e distintas). O que achamos é que, desta forma, criamos uma barreira de aceitação muito mais baixa para o cidadão comum, pouco informado e esclarecido quanto ao fenómeno do crossdressing. Em palavras simples: se nos comportarmos e nos apresentarmos como qualquer outra mulher, é mais fácil para a maioria das pessoas aceitarem esse tipo de comportamento e limitar a rejeição da nossa aparência, se esta estiver conforme as normas e padrões da maioria das mulheres.
Isto não quer dizer, claro, que temos de vestir todas a mesma coisa, usar a mesma maquilhagem e corte de cabelo, etc., tipo uniforme das escolas inglesas e japonesas! Claro que não! Cada uma de nós é diferente — tal como cada mulher é diferente! — e temos uma infinita variedade de escolhas que podemos usar para nos apresentarmos em público. No entanto, de entre essas escolhas possíveis e variadas, optamos por aquelas que são mais funcionais do ponto de vista social. Ou seja: numa situação ideal, num grupo misto em que estejam mulheres genéticas e crossdressers, estas não se deveriam distinguir (em média!) umas das outras, seja pelo seu comportamento, seja pela sua aparência. Obviamente que cada uma será individual e única, e é essa diversidade que torna a interacção social interessante. Não faz sentido sermos «cópias» de um modelo ideal (que não existe), mas sim expressões da nossa individualidade. O que conta aqui é adquirir a maturidade para saber conciliar os dois extremos: a conformidade com os padrões sociais de acordo com a nossa sociedade e o contexto em que estamos (uma festa privada, um passeio, um lugar público, etc.) e a individualidade que nos torna únicas na forma como nos apresentamos aos outros.
Conciliar os dois extremos não é fácil, requer treino, adquire-se com a experiência. Mas a maioria das mulheres faz isso mesmo, todos os dias. Cabe-nos a nós fazer o mesmo também. Assim, parece-me a mim, teremos maior sucesso em sermos aceites e respeitadas.
Neste artigo foquei-me essencialmente nos aspectos externos, e obviamente que há boas razões para isso. Evitei deliberadamente falar na motivação para o crossdressing, porque esta é tão variada que não é legítimo estar a definir «normas» — muito menos quando se fala de um grupo que tem como principal objectivo praticar a tolerância e a interacção entre pessoas com motivações o mais distintas possíveis.
Ora mas na sociedade em geral o mesmo se passa. Um banqueiro rico pode ter actividades em privado que chocariam a maioria das pessoas — mas que são perfeitamente legais e admissíveis, em privado! — mas, quando está em público, comporta-se de certa forma. Isto não é hipocrisia! É meramente uma compreensão de que, num contexto social em que interagimos com outras pessoas, o nosso comportamento e aparência devem ser adequados a esse contexto, independentemente do que nos motiva.
É por isso que estou deliberadamente a evitar falar em casos específicos de motivações. Vou dar alguns exemplos clássicos: alívio do stress; escapismo; excitação/erotismo; curiosidade; procura de novas amizades mas também parceiros sexuais; e assim por diante. As razões podem ser muitas. No entanto, estas motivações tão diferentes podem co-existir e interagir num espaço comum, desde que se sigam as mesmas normas sociais que regulam o comportamento e a aparência. Isto é particularmente verdade quando o nosso grupo interage com outros grupos que levam estilos de vida alternativos, por exemplo; para haver uma base comum de entendimento, há justamente normas comuns de comportamento social.
Mas no fundo é isto que se passa em qualquer tipo de interacção social, fora do campo do crossdressing. Se adequarmos o nosso comportamento e aparência de acordo com as normas da maioria das pessoas, podemos interagir com qualquer pessoa, independentemente das suas motivações. Isto é universalmente verdade, e a maioria de nós tem essa experiência no dia-a-dia. Por exemplo, no local de trabalho, que nos «impõe» certas regras de comportamento — um sinal de maturidade é aprender qual é a cultura empresarial e adaptar-se a ela — cada um dos nossos colegas tem motivações diferentes. No entanto, no contexto do trabalho, todos seguimos as mesmas normas de interacção social. Isto, para nós, é perfeitamente «normal» — no sentido em que qualquer outra alternativa não é funcional.
Devemos, pois, usar a nossa própria experiência de adaptação a vários contextos sociais para fazer o mesmo quando estamos a fazer crossdressing, seja por que razão for, ou independentemente da nossa motivação. O contexto social em que nos apresentamos enquanto estamos vestidos de mulher é, efectivamente, o de uma mulher — pois é assim que nos vêem. Portanto, o comportamento que é mais adequado e mais funcional é o de uma mulher. Não o de uma mulher imaginária, ou de um exemplo extremo que admiremos, ou uma nossa fantasia do que que devia ser uma mulher; em vez disso, devia ser, o mais aproximadamente possível, o comportamento de uma mulher real que corresponda à maioria das mulheres — tendo em conta, claro está, a nossa individualidade e estilo pessoal.
Desempenhamos, em sociedade, um enorme número de papéis. Enquanto membros de um casal, somos o ente querido e amado do nosso cônjuge; para com os filhos, somos pais e mães estremosos; no local de emprego, somos trabalhadores árduos e esforçados; com os amigos, somos relaxados, e assim por diante. Se vamos a um funeral, não nos comportamos (nem nos vestimos!) como se fôssemos assistir a um jogo do Sporting. Para cada situação, sabemos adoptar o papel adequado. Aprendemos isto com os nossos pais, familiares e amigos, mas também por nós próprios, ao perceber que determinados comportamentos são mais funcionais em certas situações, mas não noutras.
Enquanto crossdressers, temos de aprender alguns papéis novos. Se for essa a nossa motivação, podemos desempenhar um papel em privado que é muito diferente do papel em público. No entanto, todas as mulheres genéticas têm um papel privado e outro em público, pelo que não seremos diferentes delas nesse aspecto. Mais uma vez: isto não é hipocrisia. Não tratamos os nossos colegas do emprego como tratamos o nosso cônjuge — são situações diferentes, contextos diferentes, e as palavras carinhosas que dedicamos ao nosso cônjuge na intimidade do quarto são completamente inadequadas no local de emprego quando estamos a lidar com colegas. Somos, em simultâneo, amantes perfeitos e colegas de trabalho perfeitos — uma coisa não exclui a outra, embora sejam papéis completamente distintos. Tão distintos como o exemplo das minhas instrutoras na tropa: dentro do quartel tinham um papel, fora do quartel tinham um papel tão diferente que eu não as reconheci. Não se trata aqui de «fingir» ou pretender ser algo que não somos; trata-se apenas de reconhecer que temos papéis distintos consoante as diferentes situações.
O mesmo se aplica enquanto praticamos crossdressing. Temos aqui novos papéis a desempenhar. Mas o princípio é o mesmo: enquanto estamos num contexto social público, é mais funcional adoptar um papel adequado a uma mulher genética no mesmo contexto. Em privado obviamente que podemos ter um papel diferente. É importante perceber a diferença!
Será esta a melhor solução? Claro que, mais uma vez, não há soluções «melhores» nem «piores», mas sim soluções mais adequadas dependendo dos objectivos. Se o objectivo e a motivação principais forem o de obter uma aceitação social enquanto crossdressers, então esta é a solução mais funcional, mesmo que possa não ser a «melhor». Se tivermos outros objectivos e motivações — o activismo político, a rejeição dos valores sociais, a provocação, etc. — então obviamente que esta não é a «melhor» solução. No entanto, penso que seja razoavelmente consensual que todas nós, independentemente da motivação que tenhamos, só saímos a ganhar se obtivermos uma maior aceitação pública, uma maior tolerância, e até mesmo algum respeito pela sociedade em geral. Penso, pois, que passar uma imagem da crossdresser formalmente integrada nessa sociedade — disposta a aceitar as normas e padrões da maioria das mulheres genéticas — só nos pode trazer benefícios.
Caso contrário, a alternativa que nos resta é o gueto: ficarmos isoladas da sociedade, fechadas num casulo, sem podermos evoluir, e sem jamais obter aceitação pública.
Na minha experiência, conquistam-se os corações das pessoas se lhes dermos motivos para que criem laços de empatia connosco; isso passa por criarmos «pontes» em que vemos o que temos em comum, e focarmo-nos nesses pontos. Não é berrando com elas, insultando-as, chocando-as mas depois «exigindo» respeito (apesar de não mostrarmos qualquer respeito pelo nosso interlocutor), que se consegue atingir esse objectivo.
Mas, claro, posso estar enganada 🙂
E agora dou-vos a oportunidade de discordarem!