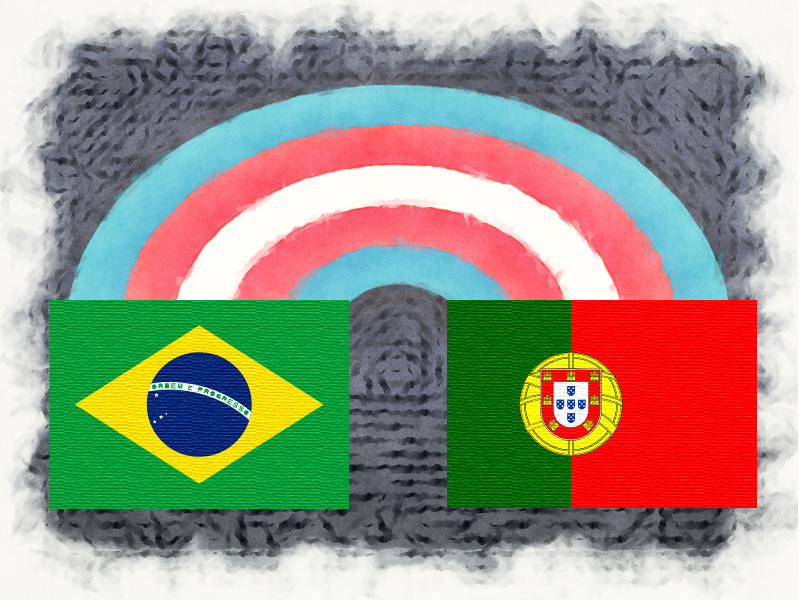O Bloco de Esquerda (BE), pela primeira vez, vai colocar nas suas listas uma candidata a deputada que é transexual. Júlia Mendes Pereira, activista dos direitos LGBTI e com bastante experiência nessa área (mas talvez não enquanto deputada!), concorre por Setúbal na 8ª posição da lista, como forma de reconhecimento do BE pelo seu trabalho efectuado — embora não tenha a possibilidade de vir a ser eleita.
O Bloco de Esquerda (BE), pela primeira vez, vai colocar nas suas listas uma candidata a deputada que é transexual. Júlia Mendes Pereira, activista dos direitos LGBTI e com bastante experiência nessa área (mas talvez não enquanto deputada!), concorre por Setúbal na 8ª posição da lista, como forma de reconhecimento do BE pelo seu trabalho efectuado — embora não tenha a possibilidade de vir a ser eleita.
Seja como for, é um momento histórico no nosso país. Estive a dar uma olhadela por esse mundo civilizado fora, e não há assim tantos deputados ou membros do governo que sejam transexuais. Há, decerto, alguns. Barack Obama tem no seu staff uma mulher transexual. Mas de entre as minorias mais discriminadas, ostracizadas, e vítimas de violência, é o grupo das pessoas transgénero e intersexo que tem menos representatividade.
Poder-se-á argumentar que «não é preciso» que existam deputad@s transexuais; basta que os deputados existentes, especialmente aqueles cuja especialidade é a defesa de direitos humanos e da igualdade social, podem perfeitamente representar a comunidade LGBTI, estando firmemente aconselhados pelos seus consultores, estes, sim, realmente membros da comunidade. É verdade. Não posso discordar desta argumentação.
Mas há, evidentemente, alguns factores psicológicos a ter em consideração. Por exemplo, é muito mais eficaz ter uma pessoa de etnia africana a defender activamente os direitos dos PALOP imigrados em Portugal. Com certeza que uma pessoa de qualquer outra etnia os poderá defender igualmente bem. Mas surte muito mais efeito quando é um membro de determinada comunidade que a representa na Assembleia da República. Os deputados da Madeira e dos Açores na AR são, justamente, madeirenses e açorianos. As deputadas que defendem a igualdade de géneros, pedindo novas leis que terminem com a discriminação das mulheres são, elas próprias, mulheres. Podiam ser homens. Mas se forem mulheres sabem muito bem o que é ser vítima dessa discriminação.
Nos Estados Unidos, é cada vez mais frequente ver-se psicólogos e cirurgiões transexuais a serem eles mesmos a lidarem com os pacientes transexuais. É natural. Sabem perfeitamente pelo que passaram. Não leram num livro, ou assistiram a umas acções de formação. Por mais preparado que esteja um médico para lidar com os problemas específicos da transexualidade, é evidente que se este for, ele próprio, transexual, sentirá muito mais na pele os problemas pelos quais os seus pacientes irão passar – pois eles próprios passaram pelo mesmo.
Assim, é positivo que um representante da comunidade transgénero junto do órgão de soberania nacional seja uma pessoa transgénero. Pelo menos sabemos que terá uma noção das dificuldades reais pelas quais passam as pessoas transgénero.
Apesar de Júlia não ter hipótese de ser eleita, o que é importante, no entanto, é aumentar a exposição pública da comunidade transgénero. Ironicamente, talvez neste ponto a comunidade transgénero precise de se afastar mais do caminho da comunidade LGB. Vou tentar explicar este meu argumento com o máximo de cuidado para não ferir nenhumas susceptibilidades!
Quando o movimento LGB (ainda sem o T) começou a tornar-se mais público, um dos focos dos activistas dos direitos LGB foi expor publicamente o direito a ser diferente. E fê-lo de duas formas, com uma das quais eu pessoalmente não concordo: forçar, à comunidade heteronormativa, a aceitação pública de uma manifestação ou expressão das suas preferências sexuais de forma deliberadamente chocante. Insere-se neste tipo de activismo as gay pride parades, mas não só: a divulgação através da comunicação social, do cinema, das formas de expressão artísticas, de uma «cultura gay», de uma forma massiva e intrusiva, obrigando a sociedade heteronormativa a aceitar que 10% da população é «diferente» da norma — quer os restantes 90% gostem ou não dessa «diferença», são obrigados a aceitá-la.
Discutir «cultura gay» é um problema, porque não há uma cultura gay, mas inúmeras culturas gay. No entanto, e talvez sob influência anglo-saxónica (é difícil para mim dizer onde e quando isto começou), criou-se a noção de que se uma pessoa tem determinada preferência sexual, tem, de certa forma, de se «exprimir» de forma diferente do resto da população: usar roupas diferentes, adoptar maneirismos diferentes, dar-se com gente diferente, ir a locais onde encontram pessoas com os mesmos gostos e preferências. Em certa medida, esta fase da promoção da diferença de preferência sexual fez-se à custa de uma «auto-guetização» em que os participantes, deliberadamente, adoptam uma forma de expressão diferente da heteronormativa «porque têm direito a fazê-lo». Isto, claro, colocou na cabeça das pessoas que todos os homens homosexuais são exageradamente efeminados, têm gestos extravagantes, e são cabeleireiros, actores, ou dançarinos. Por sua vez, passou-se a imagem que todas as mulheres lésbicas são butch e andam na tropa ou a conduzir empilhadoras nas obras. Criaram-se novos estereótipos para a comunidade LGB (especialmente L e G), mas estes foram, em certa medida, incentivados pela própria comunidade LGB.
Ora quando se vai olhar para a realidade — e falo, para já, da realidade portuguesa, já que estou pouco familiarizada com a restante — é evidente que esta imagem não é verdade. Não conheço pessoalmente nenhum homem homossexual que seja deliberadamente efeminado, que vista roupas coloridas, e que tenha trejeitos exagerados. Claro que eles existem. Mas não os conheço pessoalmente. O meu cabeleireiro é heterossexual, casado e com filhos — assim como alguns actores que conheço. Os homossexuais que eu conheço têm profissões perfeitamente banais, nada estereotipadas (são engenheiros, advogados, médicos, como qualquer outra pessoa) e passam completamente despercebidos, seja onde for que estejam (alguns eram amigos que conhecia bem antes de se assumirem como homossexuais, e depois de se assumirem, não se tornaram em pessoas diferentes…), e, mais curiosamente, até mesmo nos espaços tipicamente LGBT não se manifestam de forma diferente. Digo «curiosamente» porque estar-se-ia à espera que existissem alguns «estereótipos» entre os homossexuais portugueses, quando estão em espaços que são LGBT-friendly. Mas não. Nem sequer aí. Na realidade, passam completamente despercebidos. Talvez um olhar mais cuidadoso repare que as suas camisas, iguais às de qualquer outro homem, estão um pouco mais bem passadas a ferro. A sua barba é aparada meticulosamente. A pele está bem cuidada. Em geral, a sua aparência é mais agradável, mais cuidada. Mas de resto é impossível distingui-los — o velho mito do gaydar pode existir ou não, mas terá de ser muito mais bem «afinado», pelo menos no caso português…
Ou seja: embora tenha sido feito um forte activismo para a sociedade aceitar uma «cultura gay» criada em torno de estereótipos, e, em certa medida, essa aceitação existe, quando vamos olhar para a realidade, o que a comunidade gay portuguesa quer mais é passar despercebida. Com certeza que se sentem muito mais à vontade em espaços que lhes sejam próprios. Mas curiosamente nem mesmo aí mudam de atitude, de maneirismos, ou sequer de roupa. Eu poderia levar a minha mãe (infelizmente já falecida) — pessoa com bastante abertura de espírito! — a qualquer um desses espaços, e saberia que a primeira pergunta que ela me faria era: «mas afinal de contas onde estão os gays?»
Talvez esteja a ser injusta. Talvez esteja a generalizar a partir de poucos exemplos que conheço. Mas esta é a minha percepção baseada no que observo…
Penso que, no entanto, no caso da população transgénero, em especial nas crossdressers, a abordagem deve ser ligeiramente diferente.
Por desconhecimento do público, o crossdressing é sempre associado a sexo. Isto, na realidade, é verdade para 90% das crossdressers, pelo que o público não está completamente errado. Por ser uma actividade do foro íntimo, a ser praticada na privacidade da casa de cada um, não há necessidade, para a maioria das crossdressers, de estar a lidar com um certo activismo político. Afinal de contas, não existem grupos de swingers, de infantilistas, de BDSMers, a marcharem pelas ruas da capital em busca de mais direitos: os direitos que já têm — o direito a fazer o que gostam de fazer em privado, desde que ninguém seja forçado contra a sua vontade — são já constitucionalmente garantidos. Não é preciso mais do que isso.
Mas as restantes 10% de crossdressers, assim como a população transexual, já configuram um caso muito diferente. No caso das crossdressers, uma substancial parte nunca «sai do armário», e essencialmente limita-se a estar em casa. Não quer dizer que não queira fazer muito mais do que isso — quer dizer apenas que os riscos de discriminação, ou, pior, reconhecimento por amigos, familiares, vizinhos, ou colegas, são demasiado elevados para valerem a pena. Da mesma forma, muitos transexuais — os tais «transexuais tardios», como a Caitlyn Jenner — acabam por optar por uma vida de acordo com os padrões heteronormativos (uma vida de mentiras, como diria a Caitlyn) do que manifestarem o género com que se identificam.
Isto essencialmente porque a grande parte da discriminação, pelo menos nos países onde isto tem sido estudado, vem muito mais do desconhecimento do que da moralidade.
Um estudo recente feito em Portugal, publicado na tese de mestrado de Ana Rita Monteiro de Oliveira, chega a algumas conclusões interessantes. A aceitação do transgenderismo em geral é maior entre as mulheres do que os homens (o que é semelhante ao que se passa no resto da Europa). Mas quando existe maior informação, as pessoas aceitam muito melhor o transgenderismo. E a aceitação aumenta ainda mais quando as pessoas entram em contacto com pessoas transgénero.
Pegando nestes estudos, parece-me então óbvio qual a estratégia a desenvolver para obter uma maior aceitação!
Divulgação
A primeira coisa a fazer, pois, é apostar na divulgação e na informação. Mas isto é muito mais fácil de dizer do que de fazer. Se olharmos para o panorama nacional, temos na realidade poucas pessoas que tenham a capacidade de uma Caitlyn Jenner para mobilizar a comunicação social em massa — e sem a comunicação social, ou o Estado, é difícil fazer chegar a informação correcta à população em geral.
A filha do Nené, Filipa Gonçalves, poderia ser uma potencial «divulgadora», mas ela está mais preocupada com a sua carreira como modelo do que em ser activista da «causa transgénero». De forma semelhante, a popular cantora Patrícia Ribeiro, que goza de alguma popularidade entre os seus fãs (pelo menos já tem um Disco de Ouro e continua a editar sucessos), quer é organizar a sua vida como mulher e como cantora, e esquecer o passado em que não podia ser a pessoa que queria.
Temos, por outro lado, a geração das activistas da causa transgénero. Dentro da comunidade LGBT, são famosas por lutarem há décadas pelos direitos da população transgénero. No entanto, são completamente desconhecidas do público em geral. Eu própria tenho de fazer um esforço para me lembrar do nome de pelo menos três das mais importantes e influentes activistas. Há anos e anos que publicam as suas opiniões e estão nas manifestações e nas associações LGBT a promover debates e sessões de esclarecimento. Mas quantas delas estiveram num programa da TV? Quantas foram entrevistadas na revista Cristina? Pois…
O problema, neste país, é justamente esse. As pessoas transexuais e transgénero que eventualmente poderiam gozar da atenção da comunicação social não são «activistas» propriamente ditas. Podem até ter contado a sua história em livro. Podem até ter aparecido, aqui e ali, a defender a causa das pessoas transgénero. Mas estão essencialmente focadas em viverem a sua vida como pessoas do género com que se identificam — como, aliás, a esmagadora maioria das pessoas transexuais, que quer tudo menos uma maior exposição pública: já têm de viver com o estigma da discriminação no seu dia a dia, não precisam de mais problemas…
Por outro lado, há quem tenha dedicado toda a sua vida à causa transgénero, e que provavelmente o continuarão a fazer, com o mesmo nível de devoção e energia com que sempre o fizeram. Mas infelizmente a comunicação social não as conhece.
O caso de Caitlyn Jenner, pelo menos, teve um impacto mundial, e mesmo cá as pessoas mais distraídas (como acontece com muitos dos nossos jornalistas e editores…) acabaram por tomar conhecimento da sua situação. Talvez de forma incompleta e muitas vezes com informação errada, mas foi melhor que nada. E é óbvio que Caitlyn tem menos impacto aqui do que nos Estados Unidos: por lá, um atleta olímpico que ganha uma medalha de ouro no decatlo é um herói nacional; por cá, quem ouviu falar de Bruce Jenner apenas o conhece em associação com a família Kardashian…
Informação
Procure-se pela palavra «transgender» ou «crossdresser» na versão em língua inglesa do Google, e encontram-se milhões de entradas — milhares das quais fornecidas por todo o tipo de organizações, com e sem fins lucrativos, desde caridades que apoiam o processo de transição, clínicas de cirurgia cosmética e reconstrutiva, e os milhares de clubes, associações e espaços frequentados por crossdressers — para além da inevitável oferta sexual, bem entendido. Seja como for, o público anglo-saxónico tem acesso a uma vastíssima informação, compilada de muitas formas diversas, seja do mundo dos activistas dos direitos das pessoas transgénero, seja da comunidade médica e científica, seja da comunicação social, ou da própria comunidade, que mantém blogs, websites, ou forums mais ou menos privados, onde a informação não escasseia.
Apesar do português ser a 5ª ou 6ª língua mais falada do mundo (depende da forma como são feitas as contas), e apesar do Brasil ter dois terços da população dos Estados Unidos, e ser um país com quase a mesma área (tanto dos Estados Unidos como da Europa…), a verdade é que em termos de produção de informação, estamos muito àquem do que seria desejável. E aqui neste país pacato, «os ingleses do sul» como também nos chamam (num artigo recente da BBC, explicavam que Portugal tinha passado por uma crise e um conjunto de medidas de austeridade mais severas que as aplicadas à Grécia, mas, dizia o autor, «sendo portugueses, não fizeram grande alarido»), até existe muito mais tolerância e aceitação do que se poderia pensar. Os portugueses estão cada vez mais simpáticos e com maior abertura de espírito (as pessoas cínicas como eu acham que foi justamente a crise que nos fez revelar o melhor que temos de nós); os fundamentalismos religiosos e morais estão fora de moda, são populares apenas em grupos muito reduzidos de pessoas, e o que está na moda é praticar a tolerância — desde as crianças na escola, que convivem agora com colegas de múltiplas etnias (filhos de emigrantes chineses, eslavos, brasileiros, africanos…), aos adultos que vivem e convivem com todo o tipo de pessoas, de culturas vindas de todos os cantos do mundo — graças ao aumento do turismo e da imigração. Mas a verdade é que este o nosso legado histórico, fruto de 500 anos a contactar com pessoas completamente diferentes de nós nos quatro cantos do mundo.
No entanto, não basta sermos um povo essencialmente tolerante (mesmo que tenhamos uma tendência conservadora). Infelizmente somos igualmente um povo essencialmente ignorante — o acesso à informação é reduzido, e, muitas vezes, o que é revelado pela comunicação social é misterioso. A recente «moda» do combate à corrupção, popularizada pela comunicação social que não lhe dá tréguas, choca o comum dos portugueses, que passou cinco décadas sob um regime em que era proibido falar de corrupção, e, durante o regime que se seguiu, a corrupção era ainda um tabu que não era tocado pela comunicação social. Agora, «vale tudo», e aquilo que sempre foi escondido, sempre existiu na sombra, vem agora à luz do dia. Os portugueses ficam baralhados. São obrigados a enfrentar uma realidade que sempre andou escondida, mas que agora é notícia de abertura nos telejornais. Isto confunde a população, que não está informada devidamente sobre a forma como a nossa sociedade realmente funciona. E a comunicação social também não ajuda: prefere a informação bombástica, com grande impacto visual, à explicação racional do funcionamento da sociedade e da sua apresentação tal como ela é. Mas os próprios jornalistas também frequentemente desconhecem essa realidade; são tão ingénuos e mal informados como os espectadores.
Poder-se-á dizer que essa informação deveria ter sido dada na escola. Vou dar um exemplo concreto, e um mais abstracto. O exemplo concreto é que a ninguém é ensinado qual o papel do Governo num Estado de Direito com uma orientação social-democrata (todos os partidos do bloco central são sociais-democratas na sua essência, tal como a Europa a que pertencemos é fundamentalmente social-democrata). É por isso que vemos adultos, já na sua meia-idade, perfeitamente convictos que é papel do Governo diminuir os impostos, diminuir o desemprego, diminuir a inflação, e aumentar o investimento público e as exportações, sem aumentar o défice. Uma hora de macroeconomia a mostrar uns gráficos coloridos seria suficiente para mostrar porque é que tal coisa é absurdamente impossível. Mas ninguém dá esse tipo de matéria nos liceus portugueses. Eu tive a sorte de ter essa hora no ensino universitário, mas relativamente mal dada, e as consequências da explicação só as compreendi muitos anos mais tarde; tenho a certeza que muitos dos meus colegas perceberam ainda menos e hoje em dia juntam o clamor das suas vozes àqueles que, por desconhecerem como funciona um Governo e as medidas que tem ao seu dispor, continuam a acreditar que é possível fazer esse tipo de milagres matematicamente impossíveis.
O exemplo mais abstracto é mais subtil, e tem a ver com a quantidade de informação que se consegue efectivamente passar na escola. Um autor de divulgação científica, explicando esta problemática, dizia que a nossa abordagem educativa era impingir às crianças «mentiras infantis» (lies-to-children). Por exemplo: por uma questão de simplificação, em química, explicamos às criancinhas que o átomo é uma espécie de sistema solar em miniatura, onde os electrões orbitam um núcleo central muito massivo, tal como os planetas orbitam o sol. Na realidade, esta explicação está errada. No entanto, para as crianças, este modelo é mais fácil de explicar e de visualizar, e está «menos errado» do que a alternativa (por exemplo, dizer que a matéria é composta de fogo, ar, água e terra…). Mais tarde, se as criancinhas quiserem especializar-se em química ou física, podemos apresentar-lhes modelos do átomo cada vez mais sofisticados e mais próximos da realidade.
Em que medida é que isto tem alguma coisa a ver com as questões transgénero? Bem, por uma questão de simplificação, nas escolas, quando se dá biologia e educação sexual, diz-se que o sexo está associado ao género e que ambos são geneticamente condicionados. Isto estará correcto em sensivelmente 90% dos casos. Um bom professor poderá acrescentar que na realidade existem pessoas que fazem parte dos tais 10%, e se estiver muito bem informado, até poderá explicar que sempre foi assim (e sempre será), a diferença é que hoje em dia não podemos discriminar os 10% que não estão em conformidade com o género binário e com a predisposição cromossomática para o sexo, e que existe mais abertura para os aceitar. Com muita sorte, talvez esse mesmo professor ainda aborde a questão da homossexualidade, e que consiga, na mente das criancinhas, separar coisas como o prazer e satisfação sexual, associados à paixão, dos laços de intimidade e cumplicidade que se estabelecem no amor romântico, e explicar que ambas as coisas nada têm a ver com o género e/ou o sexo biológico dos parceiros. Mas será difícil de aceitar que a maioria dos professores saiba explicar isso; eles próprios não saberão a diferença.
Como poderemos estar então à espera de que a vastíssima panóplia de orientações sexuais e de expressões de género possa ser apresentadas nas escolas — especialmente porque os próprios membros das comunidades LGBTI podem nem sequer ter conhecimento de todas as variantes possíveis? A própria sigla vai aumentando de comprimento à medida que as décadas passam: agora já lá está o «I» de «intersexo», mas falta ainda o «A» das pessoas asexuais e agénero (se é que esta última palavra existe sequer em português), ou o «P» das pansexuais, etc. Mesmo que se queira «simplificar» todas estas classificações, e restringir-se apenas a algumas, como poderemos esperar que um professor de liceu tenha sequer a capacidade de explicar a essência de algumas destas comunidades — pois na sua esmagadora maioria provavelmente pouco mais terá encontrado na sua vida algumas poucas pessoas homossexuais, de certeza que não encontrou nenhuma transexual (mesmo que saiba que existam), ignora sequer se existem em Portugal pessoas intersexo, e as restantes classificações « esotéricas» são para este professor um completo mistério?
É, pois, muito difícil aceitar que se consiga fazer um ensino exaustivo, a título de liceu, explicando toda a complexidade da comunidade transgénero. O melhor que se conseguirá é ilustrar com alguns exemplos dos casos mais frequentes. Numa turma de 25 alunos, um ou dois poderão ser LGB, pelo que vale a pena falar de homossexualidade e explicar em que consiste. Num liceu com 3000 alunos, é possível que exista um ou dois que apresentem uma forma de disforia de género. Num agrupamento escolar, talvez existam um ou dois que sejam intersexo. As restantes variantes serão provavelmente muito difíceis de encontrar — em média, claro está. Haverá sempre um liceu ou outro em que vão aparecer alunos que se irão identificar com outros géneros ou outras orientações sexuais que não a heteronormativa. Mas poder-se-á legitimamente acreditar que é possível cobrir todas as possibilidades?
Onde é que se poderá, pois, obter esta informação? Infelizmente a resposta é que não se pode; cabe à própria sociedade, aos próprios membros destas comunidades, publicarem a sua própria informação ao mundo em geral, e fazerem ouvir a sua voz, seja por que meio for. Esta situação é extremamente complicada quando, na maior parte destas comunidades, embora exista protecção contra a discriminação do ponto de vista legislativo, esta continua a existir do ponto de vista social. É uma «pescadinha de rabo na boca»: por um lado, quanto menos informação existir para o público em geral, maior será a discriminação; mas essa própria discriminação vai impedir que surjam mais voluntários para disponibilizarem essa tão necessária informação, pois temem a potencial discriminação a que possam ser sujeitos, se se expuserem publicamente.
Vamos a mais umas analogias. Se eu quiser fazer um site sobre o Sporting ou o Benfica, como não existe discriminação contra os adeptos do futebol, nada me impede de falar sobre estes clubes. Se quiser mesmo criar um clube de fãs do Sporting ou do Benfica, tal coisa não é mal vista socialmente (pelo contrário!). Se quiser ir ainda mais longe e organizar a minha própria claque, posso fazê-lo livremente e até provavelmente irei beneficiar de apoios por parte dos clubes. Isto significa que é muito fácil disseminar informação sobre futebol, sob qualquer forma ou método, pois não existe nenhum estigma social pelo facto de se ser adepto do clube X ou Y. O pior que me pode acontecer é defender o Sporting e ser gozada pelos adeptos do Benfica.
Mas se sou crossdresser, e ainda por cima, dentro dos vários tipos de pessoas que praticam o crossdressing, seguindo uma linha e uma visão específica (que não é necessariamente a da maioria das crossdressers, mas apenas de uma minoria a que pertenço), então deparo-me com imensas dificuldades. Se faço um site sobre o assunto e uso o meu nome real, imediatamente vou ser ostracizada e estigmatizada, e provavelmente perco o emprego (mesmo que seja proibido), perco o apoio da família, e tenho de abandonar os amigos. Ora isso implica efectivamente um investimento pessoal que é elevadíssimo, e a pergunta sempre presente será: vale a pena? Quem é que irá efectivamente ser beneficiado com a existência desse site? A título pessoal não existe qualquer benefício, mas precisamente o contrário; mas mesmo a título social, existirá realmente algum benefício? Quantas pessoas irão directamente beneficiar de um site que explique o que é o crossdressing, em língua portuguesa? Mesmo que sejam dez mil, como algumas pessoas mais optimistas (entre as quais eu me encontro!) defendem, será que vale a pena?
Mesmo as associações LGBTI — e felizmente há muitas, e boas, em Portugal — podem ter alguma relutância em facilitar essa informação. Podem considerar que seja pouco relevante. Afinal de contas, é plausível que existam um milhão de cidadãos portugueses que sejam LGB. Mesmo que sejam só metade, isso já dava para encher uns dez estádios de futebol! É muita gente mesmo — o que significa que qualquer informação, por pouca (e incompleta) que seja, pode vir a afectar positivamente imensas pessoas. Ou seja: o benefício social de tal informação, pelo impacto que tem, pode mais que compensar o estigma social e o prejuízo pessoal por divulgar tal informação. Compensa!
Mas quando se olha para as questões de identidade de género, as coisas complicam-se imenso. O número de crossdressers pode realmente ser de dez mil, mas a esmagadora maioria (se se aplicarem a Portugal as mesmas estatísticas que no resto do mundo, serão 90%) são crossdressers fetichistas, sem qualquer problema de identidade de género. Talvez umas mil não sejam fetichistas, e para essas a informação é fulcral. Dentro destas mil, menos de uma centena serão transexuais, e essas são as que mais necessitam de informação e apoio. É muito pouca gente. Não admira, pois, que nem sequer as organizações LGBTI queiram perder muito tempo com os T, I, A, P, ou outras variantes: é tão pouca gente que não merece o esforço.
A tristeza desta realidade é que, quanto menor for esta minoria (passe o pleonasmo…), mais sedenta está de informação, e mais importante é que o público conheça a sua realidade. No entanto, justamente por serem tão poucas pessoas, é muito mais fácil ignorar a sua existência — porque quanto menor é o seu número, maior é também a sua estigmatização e ostracismo, a sua incompreensão pela sociedade em geral, e maior é o risco da exposição pública quando é feita a divulgação de informação sobre estas.
A abordagem clássica versus uma nova abordagem
Parece-me, pois, que a via da divulgação e da informação está «encrencada», para usar um coloquialismo. Há aqui um problema de base complicado de resolver.
Até agora, a estratégia de divulgação de informação do fenómeno transgénero (para pedir emprestada uma expressão, mal citada, do Dr. Harry Benjamin) tem estado assente no «activismo». Afinal de contas, desde que existem lutas pelos direitos humanos, esta tem sido a forma mais frequente, assente numa estratégia que tem dado provas. Embora não seja obrigatório que assim seja, a maior parte das formas de activismo têm repetido o mesmo modelo: acções de sensibilização de «choque», cujo objectivo é «sobressaltar» a sociedade, para que esta preste atenção às reinvidicações dos activistas: desde manifestações, a cartazes, a palavras de ordem, a eventos com bastante impacto visual, a abordagem passa por «incomodar» as pessoas. E quando estas se sentem incomodadas, prestam atenção.
Em paralelo a este tipo de actividades, há evidentemente as sessões de formação e de explicação, que podem ocorrer em escolas, junto de certas classes profissionais (seja em seminários, seja através de artigos em revistas da especialidade), ou em sessões de esclarecimento junto dos órgãos de governação.
As «campanhas de rua» têm sempre maior impacto quando atraiem a atenção da comunicação social: tem sido assim pelo menos desde o início do século XIX, quando os jornais se tornaram comparativamente baratos e a sua disseminação chegava a uma considerável parte da população (mesmo que nem todos soubessem ler, arranjavam forma de que lhes lessem as notícias…). Nos dias que correm, quanto mais «chocante» for a acção de divulgação (em especial se for muito original!), maior é a probabilidade da comunicação social lhe prestar atenção.
Mas é notoriamente difícil atrair a atenção da comunicação social. Um blog de uma activista, que exponha situações potencialmente chocantes, numa linguagem rude e incomodativa, pode efectivamente suscitar reacções por parte dos leitores desse blog. Mas daí até atrair a atenção da comunicação social vai um enorme passo! Uma gay parade numa artéria principal da cidade de Lisboa terá milhares de vezes mais impacto visual, mas também milhares de vezes de mais hipóteses de atrair ainda mais atenção por parte dos jornais, da rádio e da televisão.
Não é por acaso que praticamente toda a comunicação social, em quase todo o mundo, tenha divulgado o caso de Bruce Jenner que se tornou em Caitlyn Jenner: Jenner já era um ícone da comunicação social, e o que fez, pela sua novidade e conteúdo eventualmente chocante, atraíu a comunicação social de forma absolutamente avassaladora. E Jenner conseguiu rapidamente lançar o seu próprio programa de TV (apesar de estar a perder imensos espectadores; mas o que importa é que o conseguiu lançar…), através do qual pode promover a sua forma de activismo, educando a população que assiste ao programa. Mesmo que muita gente discorde de Jenner — e do programa! — a verdade é que atrai a atenção da comunicação social. E isso é o que importa.
No entanto, há uma regra de ouro que se tem de seguir quando se depende da comunicação social para veicular uma mensagem; aprendi isto há décadas atrás, da pior forma possível. E a regra é que não se pode contar com a perspicácia e a empatia do jornalista para que transmita uma notícia da forma como nós gostaríamos que esta fosse transmitida. O jornalista vai sempre alterar o conteúdo da mensagem, nem que seja para lhe dar o seu cunho pessoal, mas normalmente, por questões de política editorial, irá apenas aproveitar aquilo que considera que tem mais impacto na população — e não aquilo que é relevante ou importante na mensagem em si. Pessoas como Caitlyn Jenner, muito habituadas a lidarem com a comunicação social, sabem isso perfeitamente: na esmagadora maioria dos casos, a sua imagem vai ser sempre prejudicada (a não ser que se tenha o controlo do próprio programa de televisão, como é o caso). Mas mesmo assim é mais importante que parte da mensagem chegue ao grande público, mesmo que distorcida, incompleta ou errada, do que a alternativa — que é a mensagem ser completamente ignorada.
Quem esteja à espera de conseguir uma reprodução fiel da mensagem por parte da comunicação social, vai ter uma enorme desilusão (e na minha vida pessoal, fartei-me de consolar pessoas completamente frustradas e irritadas com entrevistas que deram, que depois foram publicadas de forma completamente distorcida). Mais vale nem tentar!
No caso do activismo transgénero, esta situação é particularmente difícil porque involve muitas sensibilidades, muito palavreado «politicamente correcto» (ainda outro dia apanhei alguém a dizer que considerava que a palavra «transsexual» era pejorativa e ofensiva… quando se trata de uma designação legal e científica, consagrada na nossa lei), e muitos grupos e subgrupos dentro da comunidade, a maioria dos quais se opõe violentamente à existência dos restantes, procurando impôr a sua «visão» como sendo a correcta. É difícil, para um jornalista, que de certeza que não tem experiência alguma a lidar com as delicadezas desta comunidade, saber transmitir correctamente qualquer mensagem que lhe seja passada. Mas pior que isso: mesmo que o jornalista em questão seja um perito em assuntos trans*, sabe que a população não percebe nada do assunto. Assim, terá de alterar a mensagem para que esta seja compreensível. Por exemplo, não é legítimo que um artigo curto sobre a comunidade de pessoas crossdresser possa fazer referência às diferenças entre crossdressers que são fetichistas e as que não o são; e entre as que não são, muito menos será fácil de explicar a diferença entre aquelas que têm problemas de disforia de género e as que não têm qualquer problema. Um jornalista já achará difícil explicar conceitos tão básicos como «transgénero», «transsexual», «crossdresser»… num artigo curto que se pretende que seja compreensível pela maioria dos leitores.
Havendo aqui tantas barreiras a ultrapassar, qual é a alternativa?
Se houvesse uma solução «milagrosa», e eu tivesse conhecimento dela, provavelmente não precisava de estar aqui a escrever este blog… 🙂
No entanto parece-me que este é um caso típico em que os actos valem mais do que as palavras — e eu sou suspeita para dizer uma coisa dessas, já que o que eu faço mais é «escrever palavras» 🙂
Por outras palavras, em vez de bater à porta da comunicação social ou das escolas; ou mesmo em vez de ir pedir audiências a ministros; em vez de apostar na massificação da divulgação e da informação… acho que é mais fácil (e porventura mais eficaz, mesmo que leve muito mais tempo) começar «de baixo para cima». E isso faz-se não com «palavras», mas simplesmente dando-nos a conhecer ao público em geral, saindo dos nossos armários e frequentando os mesmos espaços que o resto da população frequenta.
Não devemos menosprezar o poder do «boca-a-boca». Por exemplo, hoje à tarde estive com a minha mulher num café que habitualmente frequento, perfeitamente vulgar, na zona da Parede. Numa das mesas estava um grupo de amigos, com idades entre os 20 e os 30 anos, homens e mulheres — e uma crossdresser. Conversavam naturalmente, como todas as restantes pessoas na esplanada do café, e na verdade eu nem reparei que a pessoa em questão era crossdresser — não chamava a atenção. Não era particularmente bonita, nem particularmente vistosa, passava completamente despercebida. Na verdade só reparei que era crossdresser por causa dos sapatos — para nós que temos o azar de calçarmos números grandes, é muito difícil arranjar sapatos que estejam na moda e que passem despercebidos, pois a esmagadora maioria das lojas online que os vendem aposta ou em modelos muito clássicos (e francamente pouco engraçados), ou em sapatos para drag queens. Não é fácil encontrar algo de jeito que nos sirva! Era o caso desta crossdresser: tinha uns sapatos clássicos, muito bonitos por sinal, mas que não eram apropriados para estar numa esplanada à tarde — até porque a roupa dela era perfeitamente adequada, só os sapatos (esse item tão difícil de encontrar!) é que destoavam. Bem, claro, depois também reparei noutros pormenores, como o facto de não ter rapado os pelos do braço, etc., mas à primeira vista, isso não me tinha chamado a atenção…
Tal como eu, umas 50 pessoas, que passaram na esplanada enquanto o grupinho de amigos lá tomava o café, provavelmente repararam só num ou noutro pequeno pormenor, mas tomaram conhecimento da existência de uma pessoa da comunidade transgénero entre elas. Tal como tenho reparado em todo o lado, os portugueses não ligam, não comentam, e nem sequer olham duas vezes. Mas depois, evidentemente, vão contar a familiares e amigos o que viram. E o que dizem é que se tratava de uma pessoa perfeitamente normal, como todas as outras, a beber o seu café e a fumar o seu cigarrinho, à conversa com amigos. Não estava aos berros, não estava a saltar para cima da mesa a dizer: «eu também sou cidadã, eu também tenho direitos!» Não estava a armar nenhum escândalo, nem a meter-se com os clientes. Nem sequer estava a usar uma roupa escandalosa ou com intenção de provocar ninguém. Aliás, a minha mulher, que se gaba de ter olho de lince e de prestar atenção a tudo, nem reparou (ela só tem como desculpa o facto de ter estado a maior parte do tempo de costas). E acredito que muita gente não tenha reparado nos sapatos, e eventualmente apenas poderá ter comentado que devia fazer depilação nos braços 🙂 Mas as pessoas que notaram e que repararam provavelmente irão passar apenas a mensagem de que se tratava de uma pessoa perfeitamente normal e igualzinha a todas as outras.
Eu penso com sinceridade que é esta a via com maior probabilidade de sucesso em termos de divulgação. Se as pessoas transgénero forem visíveis — em vez de se esconderem nos seus guetos — mas se comportarem exactamente como todas as outras pessoas, têm uma maior probabilidade de serem aceites. A sociedade tem horror ao que é diferente. Começamos já com um enorme handicap porque, enfim, somos realmente diferentes da sociedade heteronormativa. No entanto, se em vez de rejeitarmos a sociedade heteronormativa, nos comportarmos de acordo com as normas e convenções sociais — sem, no entanto, abdicar do nosso direito em nos manifestarmos de acordo com o género com que nos identificamos (mesmo que não seja com nenhum) — então teremos uma maior taxa de sucesso em ser aceites.
Estar em público, comportando-nos como o público se comporta, ajuda a criar esta imagem de «pessoas normais mesmo que se vistam de forma diferente». Foi uma regra, aliás, que aprendi com um dos meus professores budistas. Ele também não se veste de acordo com as normas da sociedade: para além de ser incrivelmente gordo (o que chama logo a atenção), ter uma barba até ao umbigo e cabelos compridos (o que ainda chama mais a atenção), é frequente andar em espaços públicos a envergar roupas vermelhas (nem sempre as roupas clássicas da tradição tibetana a que pertencemos), e anda quase sempre de sandálias, mesmo no inverno. Escusado será dizer que não passa despercebido! Mas é de uma educação e de uma cordialidade extrema, ao estilo antigo. Embora normalmente cause uma péssima primeira impressão, basta haver dois dedos de conversa para nos sentirmos completamente à vontade com ele, pela cortesia e educação com que conversa connosco. E já lhe aconteceu, evidentemente, ser muito discriminado pelo aspecto que tem e pela roupa que veste nos mais diversos sítios; como nunca perde a calma, a sua resposta é sempre educada e polida, e isso «desarma» quem o discrimina, ao ponto de acabarem por lhe pedir desculpa (que ele evidentemente aceita). Ele conta muitas histórias (geralmente hilariantes) de como «conquistou» muitos perfeitos estranhos, em cafés e supermercados, que o ostracisavam e discriminavam, até que o conheceram um bocadinho melhor, e aí passou a ser completamente aceite e tolerado. Muitos dos seus alunos lhe perguntaram porque é que ele insistia em ter um aspecto tão diferente, tão provocador; não seria melhor ter um aspecto «normal» para não causar tão má impressão? A resposta dele é sempre vaga, mas ele no fundo defende o direito que tem, neste país que constitucionalmente nos garante a liberdade de expressão, de se vestir e arranjar como lhe apetece. Agora isso não significa que não seja extremamente cordial e educado — de acordo com as normas da sociedade — em todas as situações, sem excepção.
Julgo que é isso que nós, crossdressers, temos também de fazer: apesar do nosso aspecto físico possa ser também um handicap, como o do meu professor de budismo, se nos comportarmos de forma educada e polida em todas as situações que estivermos em público, vamos causar boa impressão.
Também existe, evidentemente, o problema do reconhecimento: o medo de se ser reconhecido em público, e das consequências que isso possa ter, é bem real, e difícil de ultrapassar. Muitas crossdressers acreditam que se tornam «completamente irreconhecíveis» com a maquilhagem e uma peruca, mas isso não é bem verdade — é mais uma auto-ilusão. Embora seja certo que a probabilidade de reconhecimento seja baixa (tem a ver com a mudança de contexto, coisa que já expliquei noutros artigos: se estamos habituadas a ver a nossa médica de família com o cabelo preso e numa bata branca, a probabilidade de a reconhecermos no meio de uma discoteca com roupa justinha e os cabelos soltos é muito baixa), esta não é nula. Isto, por exemplo, é um problema que evidentemente o meu professor de budismo não tem: já há muitas décadas que adoptou determinado visual, que foi mal aceite por umas pessoas (as quais se afastaram dele), mas, para todos os efeitos, não tem qualquer problema em que o «reconheçam».
No nosso caso, a questão é diferente, pois a incompreensão e discriminação pode ter consequências pessoais, familiares, e profissionais. Embora seja proibida a discriminação das pessoas pelo que vestem, ou pela identidade de género que têm, essa discriminação continua a existir (e continuará). E mesmo que tecnicamente o nosso patrão não nos possa despedir por nos ter visto numa esplanada com roupa de mulher — se o fizer, podemos processar a empresa por discriminação — os nossos amigos, esses, podem afastar-se legitimamente de nós, e os familiares deixarem de nos falar.
Por isso convém sempre ter isto em consideração: a nossa expressão ou manifestação de identidade de género tem consequências, quando a assumimos publicamente. Temos de estar consciente dessas consequências, e fazer aquilo a que se chama «gestão de risco»: saber maximizar os proveitos dessa experiência pública, ao mesmo tempo que minimizamos os risco.s
É evidente que isto não pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer hora; e é mais fácil fazê-lo em grupo do que isoladamente. É sabido que os grupos de neo-nazis e outros grupos de pessoas intolerantes atacam, espancam, violam, e mesmo assassinam pessoas transgénero, com mais regularidade do que se possa imaginar. Mas em quase todos estes casos atacam vítimas isoladas. Um grupo, mesmo que pequeno, é um forte dissuasor — até porque basta que uma das pessoas do grupo escape, identificando os agressores, para que estes tenham sérios problemas.
Por outro lado, grupos gigantescos podem ser incomodativos. Imaginem o que é invadir uma Primark com centenas de crossdressers 🙂 A Primark pode até gostar — pois as crossdressers são boas clientes! — mas a restante clientela pode ficar incomodada e deixar de frequentar o estabelecimento, o que lhes causará prejuízo e um certo antagonismo para com as crossdressers que lhes «roubam clientes». Assim, mais vale encontrar um certo equilíbrio — aquele em que a nossa presença não seja suficientemente incomodativa para a clientela (e para os donos do estabelecimento), mas que seja suficiente para que possam ver como somos pessoas normais, tão bem educadas como as restantes, sem querer «armar confusões».
Isto tem ainda uma vantagem de nos «afastar» mais das crossdressers fetichistas, pois estas nunca saiem dos respectivos espaços privados (por razões ainda mais óbvias). Como tudo que seja associado a sexo cria um horror na mente das pessoas, ao ver que nós não fazemos parte «desse» grupo, poderemos colocar as pessoas mais à vontade.
E a verdade é que nas «experiências» que temos feito no nosso grupinho a aceitação e a tolerância têm sido impecáveis — cinco estrelas, como se diz hoje em dia! Temos o cuidado de avisar os donos ou gerentes primeiro. Quase todos são muito pragmáticos: aceitam qualquer pessoa, seja como se apresentarem, desde que não causem distúrbios — é só essa a limitação! Claro que estamos a falar de espaços nas grandes cidades, e nas zonas muito turísticas, já habituados a todo o tipo de fregueses. Provavelmente será bem mais difícil de conseguir fazer o mesmo na província profunda (mas também há planos para isso…). E evidentemente que não estamos a fazer isto em todos os espaços: até porque é mais conveniente dar uma certa continuidade aos espaços em que sabemos ser bem tratadas, pois assim contam com clientes habituais, que é sempre bom para o negócio. E, para já, temos estado a restringir-nos a restaurantes, bares, e cafés/esplanadas, se bem que muitas de nós tenham igualmente ido fazer compras (ou mesmo entrar num casino… 😉 ). Mas também prevemos alargar a nossa frequência a outro tipo de espaços públicos, como salas de cinema ou de espectáculo, por exemplo.
Embora se esteja a preparar alguma informação para disponibilizar nesses espaços, a verdade é que contamos principalmente com a nossa presença para explicar o que somos e o que fazemos. Normalmente, a principal pergunta que os donos, gerentes, e funcionários dos estabelecimentos têm é saber como nos devem tratar — porque não nos querem ofender! Fora isso, todas as conversas que temos com eles — e normalmente essas conversas surgem espontaneamente, depois da primeira ou segunda vez que frequentamos o mesmo espaço — são absolutamente banais e triviais, sobre todo o tipo de coisas, sem sequer estar relacionado com a nossa identidade de género ou a nossa expressão de género. As mulheres muitas vezes nos fazem perguntas de onde vamos arranjar as unhas ou onde comprámos os sapatos ou os vestidos 🙂
Também ajuda o nosso grupo ser misto: inclui casais, tanto heterossexuais como homossexuais, e pessoas cisgénero sem qualquer interesse em serem crossdressers. São, afinal de contas, apenas amigos, amigos de pessoas que consideram perfeitamente normais, e juntam-se ao grupo como amigos que são. Isto é evidentemente visível para quem nos observa — e, na realidade, são poucas as pessoas que nos «observam» — de que nada mais se trata de um grupo de amigos e amigas a conviverem em conjunto, independentemente da forma como se vestem ou do género com que se identificam.
É claro que, num ou noutro caso, há sempre um «piropo» mais atrevido ou malandreco das pessoas com que nos cruzamos na rua. A maior parte é inocente, seguido de muita risada nervosa. Mas quando vêm que não nos afectam, que os ignoramos, os comentários cessam.
Obviamente que desta forma não se chega a muita gente. Mas as pessoas contam aos amigos, e aos amigos de amigos. É com isso que contamos: em vez do «filtro» da comunicação social, que distorce tudo, e que apresenta as notícias de forma a que sejam mais «atractivas» para a população, nós estamos mais a apostar na percepção que as pessoas têm de nós. O desafio é fazer com que elas contem aos amigos: «olha, hoje vi uns tipos lá no café ou no restaurante que estavam vestidos de mulher, mas não faziam nada de especial, só estavam à conversa uns com os outros, a tirar montes de fotografias, e a rirem-se muito». É isso apenas que queremos que pensem de nós: que somos pessoas normais que fazem o que as pessoas normais fazem, e que contem aos outros o que viram.
Aos poucos — e muito devagarinho — vamos assim construindo uma «esfera de tolerância». Porque é o desconhecimento e a ignorância que fazem a intolerância, o nosso «combate» — pacífico e silencioso — é dar-nos a conhecer, mostrarmos que não somos assim tão diferentes como isso, e que, mais importante ainda, que nos divertimos imenso e somos pessoas felizes e bem-dispostas (independentemente de termos os nossos problemas pessoais), mas também cordiais e educadas. Esta é a forma de divulgarmos a nossa «diferença», sem chocar ninguém, através da nossa presença e dos nossos actos.
Talvez aqueles que tenham estado em contacto connosco, se no futuro lhes perguntarem o que pensam sobre as pessoas transgénero, possam dizer, com um encolher de ombros, que não têm nada contra elas, porque já viram algumas num café ou num restaurante, e lhes pareceram pessoas perfeitamente normais…
Nota: O artigo foi alterado graças ao comentário de António Azevedo, que fez notar que Júlia Mendes Pereira não tem na realidade qualquer hipótese de ser eleita como deputada do BE por Setúbal, já que só está no 8º lugar da lista, e não no 2º, como originalmente tinha pensado.